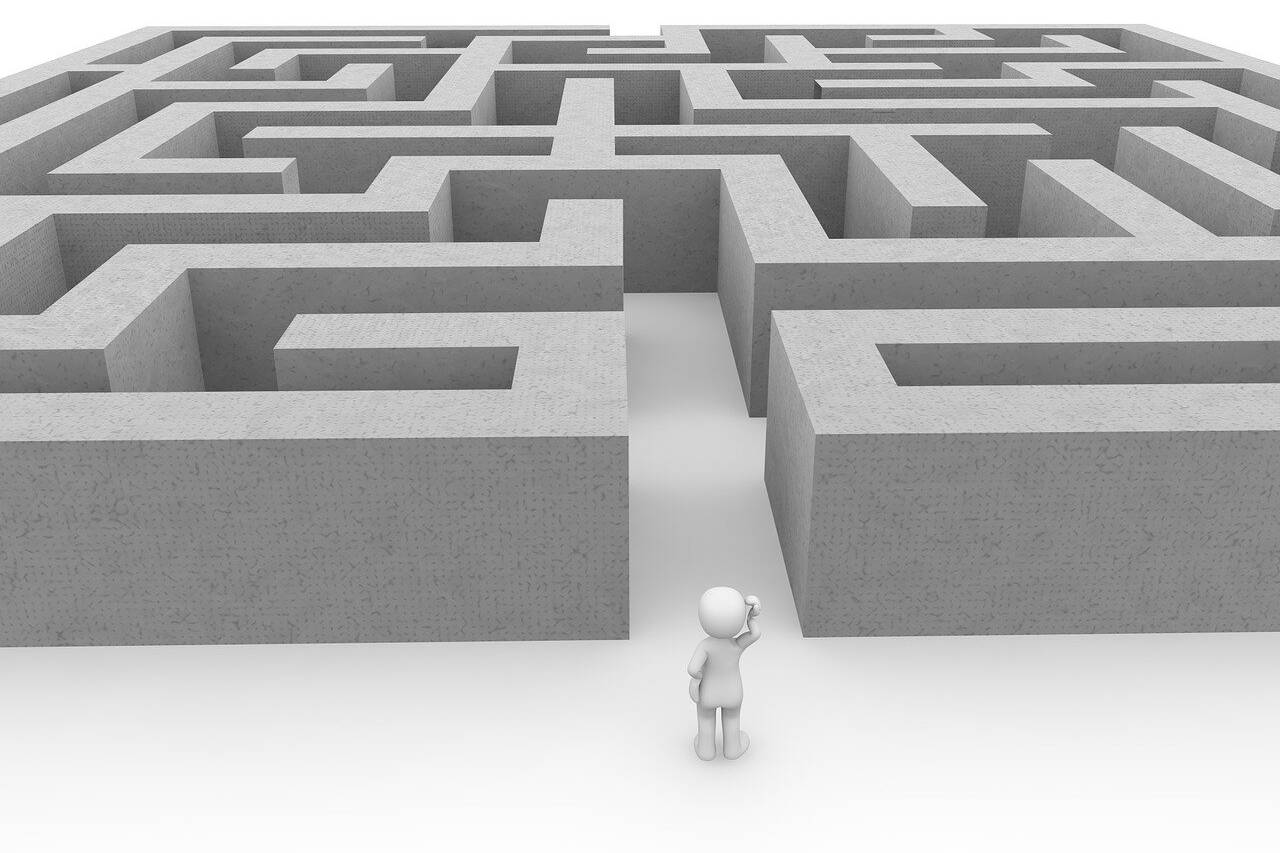Guilherme Carneiro Monteiro Nitschke**
Considerações introdutórias
A Argentina demorou quase trinta anos para substituir seu Código Civil de 1869 por um unificado “Código Civil y Comercial” em 2015 (Lei N. 26.994). Foram três projetos a anteceder o texto aprovado (de 1987, 1993 e 1998), todos servindo de matéria-prima para este; e foram vários os grupos de trabalho e as comissões com juristas nacionais e estrangeiros, e as revisões, e as consultas públicas. Tudo resultou em um “flamante y moderno Código Civil y Comercial de la Nación”, como tem qualificado parte da doutrina de lá[1].
No Brasil, o Projeto de Lei n. 4/2015 (“PL”) pouco se inspirou na experiência vizinha, seja porque há pressa no trâmite legislativo, ao contrário do que se viu no país platino; seja porque, na forma e no conteúdo, a comparação demonstra que várias proposições do PL são inferiores às soluções do Código argentino.
Assim ocorre para a disciplina da interpretação dos contratos por adesão e dos contratos conexos: as soluções do Código argentino a esse respeito são bastante superiores às do PL, o que não se justifica, em se tratando de proposição de reforma posterior à vigência do diploma platino. Mas o problema não é serem, as do PL, proposições inferiores. Essa circunstância apenas colore a atecnia que perpassa toda a disciplina da interpretação no projeto, rica em expressões enigmáticas, repleta de importações irrefletidas e abundante em categorias de quase nenhum consenso na ambiência jurídica brasileira.
Tenho procurado explicitar essa face do PL em uma sequência de trabalhos que se debruçam sobre o tema da interpretação contratual[2]. A trilogia tem seu fim neste texto, em que abordo os dois assuntos que faltam tratar: a interpretação dos contratos por adesão e dos contratos conexos nos arts. 421-D, 421-E e 423. Auscultando-os, e auscultando a inteira disciplina da interpretação que se propõe no PL, não se conseguirá dar outro diagnóstico: “A única coisa a fazer é tocar um tango argentino”[3].
- A proposta de art. 421-D e o art. 423
A proposta de art. 421-D trata de vários assuntos em seus cinco incisos, mas apenas um interessa diretamente ao tema da interpretação contratual: o que vai aludido no inc. I[4]. A ressalva de sua incidência para os contratos por adesão, constante do caput, faz com que tal dispositivo seja o reflexo invertido do art. 423, cuja redação também se propõe alterar. Os assuntos são faces de uma mesma moeda.
- 421-D, inc. I: o poder das partes para fixar “parâmetros objetivos para interpretação”
O art. 421-D é, em primeiro lugar, problemático sob o ponto de vista de sua forma. A linguagem não é tecnicamente adequada quando autoriza as partes a “prever, fixar e dispor” o que vai listado nos incisos subsequentes. Há uma abundância de verbos, todos, porém, querendo conotar uma mesma atividade, que é a derivada do exercício da autonomia privada no campo contratual. Melhor andaria o legislador se repetisse (consolidando a redundância do art. 421-D, inc. I, àquilo que está nos arts. 113 §2º e 421-A, inc. I) a opção da Lei da Liberdade Econômica (“LLE”), que, apesar de suas tantas atecnias, fez constar no art. 113 §2º tão somente a “liberdade de pactuar”.
Ainda na forma, reaparece aqui o problema do hoje vigente art. 421-A, inc. I, também presente no art. 421-C, caput: a referência a “parâmetros” de interpretação. Se forem meros “parâmetros” os inseridos pelas partes no exercício de sua autonomia privada – i.e. sem natureza normativa –, estará o intérprete obrigado a aplicá-los? Há muito se reconhece – e tal não é novidade inaugurada nem pela LLE, nem pelo PL agora analisado – que as partes são livres para pactuar regras de interpretação contratual, desde que não contrapostas às normas injuntivas; e que tais regras, se avençadas enquanto regras, são de obrigatória observância pelos aplicadores[5]. Mas e quanto a “parâmetros”? O que quer o projetista conotar: que não se reconhece natureza normativa a tais pactuações, ou que sim, se reconhece, e apenas a palavra empregada é inadequada? Falta clareza; e, com a falta de clareza, sobejará insegurança aplicativa.
Em segundo lugar, no conteúdo, a proposta de art. 421-A, inc. I, dá ensejo às mesmas ponderações críticas que fiz quando da entrada em vigor do art. 113 §2º[6], quais sejam: (i) a de não encontrar par na tradição jurídica ou no direito estrangeiro, sob a perspectiva da comparação jurídica, o que indicia proposta de ineditismo: a de declarar o óbvio e o jamais negado (pelo contrário, sempre reafirmado no espectro de incidência do art. 425), por isso desnecessária; (ii) e a de não ressalvar que os “parâmetros objetivos”, suscetíveis de pactuação pelas partes, se devem inserir na e respeitar a moldura de cogência do sistema, uma vez que não podem derrogar normas injuntivas de interpretação (e.g. os arts. 112, 113 caput e seu §1º incisos I, II e III, 423, dentre outros). Diante de tanta abundância normativa (já suficientemente problemática), melhor seria se o reformador não triplicasse a inserção de dispositivo que dita a mesma coisa com outras palavras.
A isso se somam as distinções categoriais que o caput do art. 421-A estabelece entre “contratos de adesão” e contratos “por cláusulas predispostas em formulários”, propondo, assim, dois modelos jurídicos distintos[7]; e “paridade contratual” para contrapor-se a “contratos não paritários”, como se fosse conceito que vai sem dizer[8]. Como adiantei, não intenciono neste trabalho adentrar nas distinções e categorizações que o PL dá de barato, nem avaliar se são pertinentes e tecnicamente corretas. Calha registrar, apenas, que elas são tudo, menos abundantes ou consensuais na doutrina brasileira, o que já recomenda que não constem de um Código Civil.
- 423 §2º: a interpretação “mais favorável ao aderente”
O art. 421-D caput dita que sua disciplina não se aplica aos contratos por adesão. Para estes vige a regra do art. 423, que também está sendo objeto de proposição de reforma pelo PL. Não me deterei no quanto ditam o caput e o §1º do art. 423, porque não tocam à matéria da interpretação. Somente o §2º o faz, suprimindo a exigência dos requisitos não cumulativos da “ambiguidade” e da “contradição”[9], hoje presentes no art. 423 para que possa um intérprete adotar a interpretação mais favorável ao aderente.
Sob o ponto de vista da forma, não há grandes problemas com o texto do §2º[10].
Sob o ponto de vista do conteúdo, a mudança suscita ponderações críticas.
Eliminando os requisitos da ambiguidade e da contradição sem fazer menção sequer à “dúvida”, o dispositivo enseja que uma interpretação mais favorável ao aderente tenha lugar em qualquer circunstância, assim ecoando o art. 47 do CDC como se “contratos por adesão” e “contratos de consumo” fossem sinônimos. Bastará haver litígio interpretativo, e a regra será aplicável.
Teria andado melhor o projetista se fizesse como faz o Código Civil francês (1804) antes (art. 1.162) e depois da reforma de 2016 (art. 1.190), a permitir apenas “em caso de dúvida” a interpretação “contra aquele que propôs” o contrato por adesão. Também são semelhantes o Código Civil chileno (1855, art. 1.566), o BGB (1900, art. 305c), o Código Civil italiano (1942, art. 1.370), o Código Civil uruguaio (1994, art. 1.304), o Código Civil e Comercial argentino (2015, art. 987) e o Código Civil chinês (2021, art. 498)[11]. Todos são caudatários da Sétima Regra de Pothier, que dispunha: “Em duvida deve interpretar-se huma clausula de qualquer contracto, contra o estipulante, em descargo daquelle que se obrigou”[12].
A proposta do PL descura do ônus que incumbe ao predisponente do contrato por adesão: se é dele o poder de redigir unilateralmente o contrato a que adere a contraparte, é também dele o ônus de fazê-lo com precisão. Qualquer defeito que o texto contenha não pode prejudicar a parte que não participou de sua redação, daí justificando a interpretação contra proferentem. Trata-se de um “controle de incorporação da cláusula”, como destaca a doutrina argentina ao comentar o art. 987 de seu Código Civil e Comercial, de modo a exigir que, no momento da celebração, “se fale claro, já que, caso contrário, se interpreta contra o estipulante”[13]. Mas nem toda alegação de defeituosidade há de conduzir inexoravelmente à interpretação contra proferentem, seja porque o exame casuístico pode revelar a clareza que se alega inexistir, seja porque há dúvidas interpretativas (derivadas, por exemplo, de algum grau de vagueza conatural das cláusulas) que devem, em alguns casos, ser suportadas também pelo aderente[14].
Não havendo a ressalva de que a interpretação mais favorável ao aderente só tem lugar em caso de (no mínimo) dúvida, o que se tem é potencial descompasso com o princípio da fixação genérica, que manda dar-se “primeira atenção à textualidade, à letra, ao sentido literal, que é decisivo se se trata de certa verba (termos exatos e precisos)”[15]. Pense-se naqueles contratos de seguro – frequentemente celebrados por adesão – que contiverem termos claros e precisos. O STJ já decidiu, ao analisar seguro de assistência médico-hospitalar, que “[a]s expressões “assistência integral” e “cobertura total” são expressões que têm significado unívoco na compreensão comum, e não podem ser referidas num contrato de seguro, esvaziadas de seu conteúdo próprio, sem que isso afronte o princípio da boa-fé nos contratos”[16]. Caso persista a redação do PL sem a ressalva, conclusões interpretativas como esta, em que se fez prevalecente a literalidade em favor do redator do contrato de seguro, estarão em risco: passa-se o sinal de que os contratos por adesão foram “consumerizados”, diluindo-se a regra do art. 423 na do art. 47 do CDC[17], e ensejando, em todos os casos, que intérpretes mais ativistas façam uso da janela legal para alargá-la em qualquer circunstância.
Não se entenda que tal ponderação é mero preciosismo linguístico, e que a premissa de haver “dúvida” é implícita na proposta de art. 423, §2º. As palavras da lei são performáticas, tanto quanto seu silêncio é “cheio de vozes”. Basta apanhar o direito português como exemplo. O art. 237º do Código Civil lusitano impõe a “dúvida” como requisito para a interpretação contra proferentem, mas não “uma dúvida qualquer”: somente aquela que “seja irredutível e inultrapassável, depois de considerados todos os fatores atendíveis e de esgotados todos os outros critérios legais de interpretação”[18]. Por isso, a regra do art. 237º é considerada a ultima ratio do processo interpretativo, quando não houver solução “com recurso às diretrizes do art. 236º”[19].
O atual art. 423 é suficientemente claro, preciso e não gera controvérsias, tornando injustificável, assim, que se o queira alterar em favor de uma redação sui generis sob o ponto de vista comparatista e colonizado por lógica consumerista, que não se compadece com a disciplina geral dos contratos por adesão. O que funciona, deixe-se como está.
- O art. 421-E e a interpretação conjunta de contratos diversos
Fique-se, por fim, com o último dispositivo do PL que toca a matéria da interpretação contratual: o art. 421-E, sobre a interpretação de contratos conexos[20].
A palavra inicial poderia ser a de saudar o espírito da proposta, por, de fato, carecer constar do Código Civil norma de “interpretação sistemática” também para o conjunto de contratos que tenham algum grau de conexão[21]. Era necessário frisar em lei que tanto o “contexto verbal” quanto o “fim do negócio jurídico”, enquanto critérios de interpretação, ganham expansividade diante de conexidades contratuais, seja por impor que as cláusulas de uns contratos se interpretem pelas dos outros, seja por orientar o processo interpretativo em vista da “finalidade da coligação contratual”, que é unitária[22].
No direito brasileiro, a doutrina vem se debruçando há algum tempo sobre o tema da conexidade contratual, ao aludir a “contratos conexos”, “grupos de contratos”, “redes contratuais”, “galáxias contratuais” ou, ainda, “contratos coligados”, com prevalência desta última denominação, por adesão à doutrina italiana (contratti collegati)[23]. Essas variações não são apenas terminológicas, pois cada um desses modelos jurídicos, de proveniências diversas, traz consigo traços dos significados de origem, possuidores de sutis diferenças quanto ao regime de sua interpretação. Tal cenário variegado recomenda que, ao se legislar sobre a matéria, tenha-se como diretriz a generalidade, sem incursões conceituais ou classificatórias.
Mas mesmo diante dessa variedade, há um dado de consenso na doutrina: a necessidade de que, por decorrência da conexidade contratual, proceda-se à conjunta interpretação de tais negócios[24]. Essa interpretação conjunta vai procedida na moldura de dois grupos de critérios de interpretação, se considerada a completa tábua hermenêutica: o “contexto verbal”[25], a impor que, além dos elementos textuais do próprio negócio (e.g. os consideranda, os anexos, os apêndices, as demais cláusulas, as condições gerais e especiais, etc.) e de eventuais negócios formalmente per relationem (i.e. aqueles cujo conteúdo é determinado noutro lugar), também os contratos com algum grau de conexão se interpretem uns pelos outros; e o “fim do negócio jurídico”, a impor que, em expansão à finalidade de cada um dos individuais contratos – i.e. o “efeito que se visa com os efeitos do negócio”[26] –, as conexidades contratuais se interpretem à luz da “finalidade supracontratual […] que inspirou a sua celebração”[27].
Trocando palavras, se é bem verdade que o sentido gramatical de umas cláusulas ilumina o sentido das outras, em sistemática interpretação (uma “textualidade gramatical”, i.e. o texto de uma cláusula iluminando o texto de outra cláusula, pertencente a outro contrato), os textos em seu conjunto também apontam para uma finalidade que é objetivada nesses mesmos textos, conotativa, assim, da operação jurídico-econômica buscada pela disciplina (uma “textualidade teleológica”, que aclara as cláusulas de um contrato pelo fim supracontratual presente no conjunto textual dos negócios conexos)[28].
Há convergência na doutrina, portanto, quanto à necessidade de se interpretarem conjuntamente contratos com algum grau de conexidade. Essas baías e enseadas de tranquilidade recomendam legislar, mas desde que nos limites em que contido esse consenso, de modo que a lei não singre pelos mares turbulentos das variações conceituais e classificatórias.
Não é isso o que se vê no PL, infelizmente. A intenção é salutar, mas a forma com que se a desenvolve no art. 421-E não é recomendável. A proposta de dispositivo peca pelo excesso, preocupando-se em listar cinco possíveis variações da conexidade contratual que não obedecem à melhor técnica legislativa e que criam algumas confusões conceituais, decorrentes, fundamentalmente, de se ter optado por uma redação que mais se assemelha a um trecho de doutrina.
O primeiro problema que se nota é o grau relevante de redundância que alguns dos incisos consolidam. Apanhe-se o inc. I: ele manda que se interpretem conjuntamente os “contratos coligados”. Na variação conceitual que se acha na doutrina, porém, quase todos os incisos listados como sendo hipóteses que diferem da coligação contratual (i.e. díspares ao inc. I) são reconduzíveis, em verdade, ao próprio conceito de contratos coligados. Assim é a “unidade de interesses” do inc. II[29], a reunião “estrutural e funcional” do inc. III[30] ou a dependência de que se celebre mais de um contrato do inc. IV[31]. Por tentar congregar boa parte do que se tem na doutrina sobre conexidade contratual, o dispositivo produz uma sorte de quimera, uma mistura de expressões e conceitos que melhor estariam fora da lei.
Em segundo lugar, se a ideia do projetista era ser exaustivo (o que, reitera-se, não me parece ser a melhor técnica legislativa), faltou endereçar situações outras que não apenas as de coligação contratual, como, por exemplo, os casos de contratos mistos. A doutrina registra situações limítrofes entre os modelos da coligação contratual e dos contratos mistos, o que, por vezes, causa angústias interpretativas[32]. Teria andado bem o projetista ou se não reduzisse a incidência do caput apenas a pluralidades contratuais, ou se expressamente aludisse, em dispositivo apartado, quanto à interpretação dos contratos mistos, que guarda algumas peculiaridades relevantes. Não há nem uma coisa, nem outra.
Em terceiro lugar, e apanhando o gancho dos “contratos mistos”, o inc. III consolida uma contradictio in terminis seja entre os próprios conceitos que emprega, seja em face da delimitação estipulada pelo caput. Tanto este quanto aqueles pressupõem a presença de uma pluralidade contratual, mas o inc. III, contudo, fala de “reunião estrutural” dos negócios. Quando há junção de estruturas contratuais em uma única, o que se tem como produto não é a pluralidade negocial: é um contrato único, com unidade estrutural, uma vez que “estrutura” “denota uma unidade indissolúvel resultante da fusão de forma e conteúdo”[33]. Se é verdade que em um contrato misto há “reunião estrutural” de elementos contratuais diversos, nas situações de conexidade os contratos mantêm justamente suas unidades estruturais avulsas, apesar de se conectarem funcionalmente (aqui o ponto correto do inc. III) em vista de um nexo finalístico único; um mesmo resultado econômico-social buscado com a conexidade. Tanto por isso, é contraditório e, na contradição, tecnicamente incorreto amarrar pluralidade negocial com unidade estrutural, como faz a proposta de inc. III.
Adicione-se a tudo isso um sobrevoo comparatista. Caso se mirem os Códigos Civis estrangeiros, nenhum deles adota o padrão sugerido pelo art. 421-E do PL. De um lado, há os Códigos que não referem diretamente à conexidade, mas cuja disciplina mais ampla é suscetível de ser estendida à pluralidade contratual, como são os casos do Código Civil mexicano (1928, art. 1.854) e do Código Civil peruano (1984, art. 169) , ao referirem a “contratos” e “atos jurídicos” no plural. De outro lado, há os Códigos que são expressos em aludir à interpretação de uns contratos por outros, como são, além dos já citados Código Civil francês (1804, pós-reforma de 2016, art. 1.189) e Código Civil e Comercial argentino (2015, art. 1.074), o Código Civil chileno (1855, art. 1.564), o Código Civil colombiano (1873, art. 1.622) e o Código Civil equatoriano (1970, art. 1.580)[34].
Mas, no caso do PL, nem se precisaria ir a plagas tão distantes para apanhar modelo de dispositivo. Bastaria incorporar em lei o que está melhor redigido no Enunciado n. 621 na VIII Jornada de Direito Civil (2018)[35]. A virtude está na economia de palavras e na generalidade dos preceitos, capazes de encampar variadas possibilidades de conexidade, cuja construção e contínuo desenvolvimento não incumbe ao coágulo de lei, mas às fluidas e evolutivas jurisprudência e doutrina.
Conclusões
Finalizo esta trinca de trabalhos com algumas reflexões gerais sobre o PL n. 4/2025. Os dispositivos que tratam da interpretação contratual exemplificam por que não se pode trocar a prudência pela pressa: o resultado é este – importações irrefletidas, obscuridades, vaguidão, abertura a um muito maior intervencionismo judicial (ainda que a pretensão anunciada fosse outra). A pressa é inimiga da perfeição. Nada justifica modificar mais de 1.200 dispositivos de um Código, com pouco mais de vinte anos de vigência, em um espaço de tempo curtíssimo – como foi o tempo de atuação da Comissão Temporária e como se quer repetir para o trâmite do PL.
Acresço, para finalizar, alusão ao maior paradigma da codificação ocidental ao lado do BGB: o Código Civil francês. Ele tem uma história cautelosíssima de modificações, nada obstante datar de 1804. A mais recente se deu em 2016 no direito obrigacional (“Ordonnance n. 2016-131 du février 2016”), mas elas tiveram princípio com Jean Carbonnier na década de 1960, incumbido de mudar o plano até então esboçado, que previa uma abrangente reforma. Com Carbonnier, essa pretensão foi substituída por revisões “pan par pan”, resultando em uma sequência de reformas ao longo de décadas[36]. O direito das obrigações veio por último, precedido de discussões particularmente demoradas: três projetos apresentados pela “Direction des Affaires civiles et du Sceau” (2008, 2009 e 2013), dois anteprojetos doutrinais (o “Catala”, de 2008, e o “Terré”, em publicações de 2009 a 2013), um projeto de lei (2013), consultas públicas (2015) e apresentação de um texto definitivo ao conselho dos ministros em fevereiro de 2016. O resultado desses anos de construção foi a modificação de 300 artigos, e não a aprovação de um Código novo[37].
Nada disso se tem no PL: ele pretende a tudo modificar, e quer trocar um Código com pouco mais de vinte anos por um diploma novo, redigido em um tempo menor que uma gestação! Ora, o tempo de um Código Civil e de sua reforma não é o tempo da pressa, salvo se a sociedade civil estiver disposta a conviver com os tantos “neofilipismos” do PL[38], como os que se veem nos arts. 110, 421-C, 421-D, 421-E e 423: uma disciplina da interpretação contratual mais frágil, menos previsível e mais distante da tradição jurídica brasileira.
* Citar como: NITSCHKE, Guilherme Carneiro Monteiro. A Interpretação dos Contratos por Adesão e dos Contratos Conexos no Projeto de Lei No. 4/2025: os arts. 421-D, 421-E e 423. In: MARTINS-COSTA, Judith; MARTINS, Fábio; CRAVEIRO, Mariana Conti; XAVIER, Rafael Branco (Orgs.) Boletim IDiP-IEC, vol. LXX. Publicado em 10.09.2025.
** Doutor em Direito Civil pela USP, Mestre em Direito pela UFRGS, Vice-Presidente do CBAr, Sócio de Contencioso e Arbitragem em TozziniFreire Advogados, advogado, árbitro e parecerista.
[1] ALTERINI, Juan Martín. La esperada reforma del Código Civil y su unificación con el Comercial. Sistema Argentino de Información Jurídica – SAIJ, 20 de Febrero de 2015, disponível em: https://www.saij.gob.ar/esperada-reforma-codigo-civil-su-unificacion-comercial-esperada-reforma-codigo-civil-su-unificacion-comercial-nv10425-2015-02-20/123456789-0abc-524-01ti-lpssedadevon, p. 7
[2] NITSCHKE, Guilherme Carneiro Monteiro. Interpretação contratual no Anteprojeto de Reforma do Código Civil brasileiro: o artigo 110 e a “reserva mental”. Revista Jurídica Profissional. Volume Especial. O Anteprojeto de Reforma do Código Civil em debate. São Paulo: FGV, 2024; e NITSCHKE, Guilherme Carneiro Monteiro. Interpretação Contratual no Projeto de Reforma do Código Civil Brasileiro (PL No. 4/2025): o art. 421-C. Revista Jurídica Profissional. São Paulo: FGV, 2025 (no prelo).
[3] BANDEIRA, Manuel. Pneumotórax. In: 50 Poemas Escolhidos pelo Autor. São Paulo: Cosac Naify, 2006, p. 18.
[4] “Art. 421-D. Salvo nos contratos de adesão ou por cláusulas predispostas em formulários, as partes podem, para a garantia da paridade contratual, sem prejuízo dos princípios e das normas de ordem pública, prever, fixar e dispor a respeito de: I – parâmetros objetivos para a interpretação e para a revisão de cláusulas negociais”.
[5] CARVALHO DE MENDONÇA, J. X. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. 6. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1960, v. 6, 1ª Parte, p. 209; PONTES DE MIRANDA, F. C. Tratado de Direito Privado. 4. ed. São Paulo: RT, 1983, t. 1, pp. 64-65.
[6] NITSCHKE, Guilherme Carneiro Monteiro. Comentários ao art. 113 §§1º e 2º do Código Civil: interpretação contratual a partir da Lei da Liberdade Econômica. In: MARTINS-COSTA, Judith; NITSCHKE, Guilherme Carneiro Monteiro (Coords.). Direito Privado na Lei da Liberdade Econômica. Comentários. São Paulo: Almedina, 2022, pp. 416-428.
[7] O Código de Defesa do Consumidor (“CDC”), por exemplo, sugere que há uma relação de gênero-espécie entre “contratos por adesão” e “contratos por cláusulas predispostas em formulários” (vide art. 54, caput e §1º). O proposto art. 421-A caput estaria em contradição intersistêmica com o CDC, portanto, caso incorporado ao Código Civil.
[8] Sobre os tantos problemas conceituais envolvendo os conceitos de “paridade” e “simetria”, remeto a TRINDADE, Marcelo. A reforma do Código Civil e os contratos. Boletim IDiP-IEC, edição de 12/06/2024, disponível em: https://canalarbitragem.com.br/boletim-idip-iec/xxii/; e SILVA FILHO, Osny. Paridade e simetria no Anteprojeto de Reforma do Código Civil. Revista Jurídica Profissional. Volume Especial. O Anteprojeto de Reforma do Código Civil em debate. São Paulo: FGV, 2024, pp. 193-205.
[9] “Art. 423. […]. §2º Os contratos de adesão serão interpretados de maneira mais favorável ao aderente”.
[10] Exceto por não adotar a nomenclatura mais correta, que seria “contratos por adesão”. Vide: ZANETTI, Cristiano de Sousa. Direito Contratual Contemporâneo. A liberdade contratual e a sua fragmentação. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 227 e ss. Perde-se a oportunidade de corrigir esse pequeno desacerto linguístico.
[11] Consultei o último em: Código Civil Chinês (trad. Larissa Chen Yi Qian). São Paulo: Edulex, 2021, p. 114.
[12] POTHIER, Robert-Joseph. Regras de interpretação dos contractos. In: ALMEIDA, Cândido Mendes de. Auxiliar Juridico servindo de appendice à décima quarta edição do Codigo Philippino ou Ordenações do Reino de Portugal. Rio de Janeiro: Typographia do Instituto Philomathico, 1869, p. 483.
[13] LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado de los Contratos. Parte General. 3. ed. Santa Fe: Rubinzal-Culsoni, 2018, p. 815. Na doutrina brasileira: “Logo, se de um lado não existe a presunção legal de vulnerabilidade, tal como ocorre ante a presença do consumidor, de outro é reconhecido que o aderente não exerce amplamente sua possibilidade de autodeterminação quanto a condições e cláusulas, razão pela qual o Código Civil de 2002 estabelece diretrizes quanto à interpretação e aos limites de conteúdo da seguinte forma. […] O legislador força, assim, o elaborador do contrato de adesão a zelar pela expressão clara, precisa e explícita de cláusulas e disposições. De forma diversa e mais ampla, a interpretação das cláusulas consumeristas será sempre feita da maneira mais favorável ao consumidor em conformidade com o art. 47 do CDC, não se limitando àquelas que forem ambíguas e contraditórias” (ZANETTI, Andréa Cristina; TARTUCE, Fernanda. A interpretação das cláusulas do contrato de adesão pelos princípios da boa-fé e equilíbrio nas relações de consumo. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: RT, 2016, v. 106, p. 384).
[14] GAGLIARDO, Mariano. La Interpretación en el Código Civil y Comercial. Buenos Aires: Zavalia, 2018, pp. 201-202.
[15] PONTES DE MIRANDA, F. C. Tratado de Direito Privado. 4. ed. São Paulo: RT, 1983, t. 3, p. 328.
[16] STJ, REsp n. 264562/SE, Terceira Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 12.06.2001. O caso foi analisado por MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado. Critérios para a sua aplicação. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, pp. 510-511. Não se descura que a nova Lei de Seguros (Lei Federal N. 15.040/2024) traz dispositivos específicos sobre interpretação do contrato de seguro (arts. 56 a 59), mas o exemplo e o alerta que aqui trago valem para quaisquer contratos por adesão em que haja inequívoca clareza na literalidade.
[17] Há muito alerta a doutrina que “contrato por adesão e contrato de consumo não são, todavia, termos coextensivos” (ZANETTI, Cristiano de Sousa. Direito Contratual Contemporâneo. A liberdade contratual e a sua fragmentação. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 227), assim tendo sido consolidado inclusive pela III Jornada de Direito Civil (2004), via Enunciado No. 171: “O contrato de adesão, mencionado nos arts. 423 e 424 do novo Código Civil, não se confunde com o contrato de consumo”.
[18] FERREIRA DE ALMEIDA, Carlos. Contratos IV. Funções. Circunstâncias. Interpretação. Coimbra: Almedina, 2014, p. 289.
[19] MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de Direito Civil. II. Parte Geral. Negócio Jurídico. Formação. Conteúdo e Interpretação. Vícios da Vontade. Ineficácia e Invalidades. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 743.
[20] “Art. 421-E. Devem ser interpretados, a partir do exame conjunto de suas cláusulas contratuais, de forma a privilegiar a finalidade negocial que lhes é comum, os contratos: I – coligados; II – firmados com unidade de interesses; III – celebrados pelas partes de forma a torná-los estrutural e funcionalmente reunidos; IV – cujos efeitos pretendidos pelas partes dependam da celebração de mais de um tipo contratual; V – que se voltem ao fomento de vários negócios comuns às mesmas partes”.
[21] Estudo anterior já apontava que o redator da LLE, ao mexer no art. 113 do Código Civil, perdera a oportunidade de trazer disciplina como a inserida pela “Ordonnance n. 2016-131 du 10 février 2016” ao Código Civil francês (art. 1189); vide: NITSCHKE, Guilherme Carneiro Monteiro. Comentários ao art. 113 §§1º e 2º do Código Civil: interpretação contratual a partir da Lei da Liberdade Econômica. In: MARTINS-COSTA, Judith; NITSCHKE, Guilherme Carneiro Monteiro (Coords.). Direito Privado na Lei da Liberdade Econômica. Comentários. São Paulo: Almedina, 2022, pp. 334-336.
[22] A expressão entre aspas foi empregada pelo Min. Moreira Alves no célebre “caso do posto de gasolina”, em que houve pioneiro tratamento pelo STF de conexidades contratuais (STF, Recurso Extraordinário n. 84.727/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Cordeiro Guerra, j. 27.04.1976).
[23] KONDER, Carlos Nelson. Contratos Conexos. Grupos de contratos, redes contratuais e contratos coligados. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 96 e ss.; LEONARDO, Rodrigo Xavier. Redes Contratuais no Mercado Habitacional. São Paulo: RT, 2003, p. 128 e ss.; MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Contratos Coligados no Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 99 e ss.; TORRES, Andreza Cristina Baggio. Teoria Contratual Pós-Moderna. As redes contratuais nas sociedades de consumo. Curitiba: Juruá, 2007, p. 59 e ss.
[24] E.g. GOMES, Tiago Mackey Martins de Assis. Contratos Coligados. Equilíbrio econômico e financeiro & demais temas relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2023, pp. 93-99; KIRCHNER, Felipe. Contratos Coligados: conformação teórica e fundamentos de responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Processo, 2022, pp. 63-71; KONDER, Carlos Nelson. Contratos Conexos. Grupos de contratos, redes contratuais e contratos coligados. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, pp. 192-218; MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Contratos Coligados no Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 145-162.
[25] O “contexto verbal” impõe a interpretação da partícula a partir do todo de que é parte, o que está na tradição jurídica desde, pelo menos, a Sexta Regra de Pothier (“Huma clausula deve interpretar-se pelas outras do mesmo contracto, ou estas sejam precedentes, ou consequentes (Cod. Civ. 1161)” – POTHIER, Robert-Joseph. Regras de interpretação dos contractos. In: ALMEIDA, Cândido Mendes de. Auxiliar Juridico servindo de appendice à décima quarta edição do Codigo Philippino ou Ordenações do Reino de Portugal. Rio de Janeiro: Typographia do Instituto Philomathico, 1869, pp. 483) e, entre nós, já no art. 131, 2, do Código Comercial de 1850. A LLE, com extrema atecnia, fez menção passageira à interpretação sistemática quando, no art. 113, §1º, inc. V, alude às “demais disposições do negócio”.
[26] JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antônio. Negócio Jurídico e Declaração Negocial (noções gerais e formação da declaração negocial). São Paulo: [s.n.], 1986, p. 225.
[27] NANNI, Giovanni Ettore. Contratos coligados. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore (Coords.). Teoria Geral dos Contratos. São Paulo: Atlas, 2011, p. 267.
[28] Enfatizando esse segundo sentido, em defesa de uma “textualidade teleológica”, veja-se CARBONE, Enrico. “Le une per mezzo delle altre”: l’interpretazione coerenziale delle clausole contrattuali. Giustizia Civile. Rivista Giuridica Trimestrale. Milano: Giuffrè, 2016, n. 1, pp. 24-25. De outro lado, é conhecida a visão mais restritiva de IRTI, Natalino. Testo e Contesto. Una lettura dell’art. 1362 codice civile. Padova: CEDAM, 1996, 1-20, a defender uma “textualidade gramatical” na interpretação sistemática. Não me parecem, contudo, visões necessariamente antagônicas, se tomada a disciplina brasileira da interpretação contratual como paradigma, e sim – como aponto no parágrafo a que vinculada esta nota – dois indicadores diversos (i.e. dois conjuntos diversos de critérios de interpretação) que o aplicador deve acessar: o “contexto verbal”, assim com conotação gramatical, de interpretarem-se umas cláusulas pelas outras; e o “fim do negócio jurídico”, assim com conotação teleológica, que depura do conteúdo o fim a que se presta realizar. Ao fim e ao cabo, parece-me haver aqui uma retomada, na interpretação em dinâmica, da visão de Emilio Betti que, ancorado em entendimentos da filosofia de Friedrich Ast (AST, Friedrich. Hermeneutics. In: ORMISTON, Gayle L.; Schrift, Alan D. (Ed.). The Hermeneutic Tradition. From Ast to Ricoeur. Albany: State University of New York Press, 1990, p. 43) e que remontam à Crítica da Faculdade de Julgar, de I. Kant (Ricoeur, 2019, pp. 108-109), sustentava haver uma circularidade em que o “todo” ilumina as “partes” e as “partes” iluminam o “todo”, em uma caminhada que transita de “compreensões provisórias” a “compreensões definitivas” (BETTI, Emilio. Hermeneutics as the general methodology of the Geisteswissenschaften. In: ORMISTON, Gayle L.; SCHRIFT, Alan D. (Ed.). The Hermeneutic Tradition. From Ast to Ricoeur. Albany: State University of New York Press, 1990, pp. 165-166). Essa caminhada interpretativa entre o “todo” e as “partes” se faz nas veredas dos critérios de interpretação, dentre estes o “contexto verbal” (i.e. “textualidade gramatical”) e o “fim do negócio jurídico” (i.e. “textualidade teleológica”). Não são, portanto, caminhos que se antagonizam ou que se eclipsam, mas trechos diferentes e momentos diversos de uma mesma e única caminhada.
[29] KIRCHNER, Felipe. Contratos Coligados: conformação teórica e fundamentos de responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Processo, 2022, p. 121: “causa supracontratual, formada com base em um fim comum e/ou nexo funcional, que unifica juridicamente a operação econômica”.
[30] Idem, pp. 121. Também GOMES, Tiago Mackey Martins de Assis. Contratos Coligados. Equilíbrio econômico e financeiro & demais temas relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2023, p. 85, ao referir ao “nexo lógico-econômico-funcional” que une um agrupamento de contratos distintos.
[31] MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Contratos Coligados no Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 99.
[32] Idem, pp. 115-119.
[33] Idem, p. 129; também assim, GOMES, Tiago Mackey Martins de Assis. Contratos Coligados. Equilíbrio econômico e financeiro & demais temas relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2023, pp. 99-104; e KIRCHNER, Felipe. Contratos Coligados: conformação teórica e fundamentos de responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Processo, 2022, p. 134 e ss.
[34] Sobre esses últimos, há uma distinção importante a estabelecer: ao passo que o Código francês reformado e o Código argentino são expressos em endereçar a interpretação conjunta de contratos conexos, os Códigos chileno, colombiano e equatoriano não aludem a conjuntos de contratos, e sim a uma sorte de “interpretação por analogia” ou “extensiva”, em que um contrato celebrado entre as mesmas partes e sobre a mesma matéria (mas não necessariamente conexo) serve de critério de interpretação àquele que está em turbulência. Tal preceito, atribuído ao gênio de Andrés Bello quando da adaptação das originais regras francesas ao direito chileno (JARAMILLO, Carlos Ignacio. La interpretación del contrato en el derecho privado colombiano. Panorámico examen legal, jurisprudencial y doctrinal. In: COAGUILA, Carlos Alberto Soto (Dir.). Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina. Lima: Grijley, 2007, t. 2, p. 918; Santoro, 2007, t. 2, p. 1320), se situa entre o que hoje se considera uma interpretação a partir das práticas pretéritas e o que se está tratando como interpretação de contratos conexos, sem ser inteiramente uma operação ou outra: não se trata exatamente de práticas pretéritas pois o contrato utilizado como lente interpretativa pode ter sido firmado inclusive depois daquele em questão (SANTORO, Christian Johow. La interpretación del contrato en el derecho chileno. In: COAGUILA, Carlos Alberto Soto (Dir.). Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina. Lima: Grijley, 2007, t. 2, p. 1320), além de não haver necessidade de uma pluralidade pretérita de contratações; e não se trata exatamente de norma referente a contratos conexos seja porque o dispositivo não exige a conexidade, seja porque o contrato-paradigma deve ter sido celebrado entre as mesmas partes e com mesma matéria. Ainda assim, são dispositivos que, elaborados no séc. XIX, mostram suas persistentes virtualidades, derivadas do gênio de quem as elaborou e da dose certa de generalidade que os fez evolutivos.
[35] In verbis: “Os contratos coligados devem ser interpretados a partir do exame do conjunto das cláusulas contratuais, de forma a privilegiar a finalidade negocial que lhes é comum”.
[36] Do regime matrimonial em 1970, do divórcio em 1975, do direito sucessório em 2001 e em 2006, da filiação em 2005, do direito dos seguros em 2006, do direito das pessoas em 2007 e da prescrição em 2008.
[37] Para esse histórico, veja-se CHANTEPIE, Gaël; Latina, Mathias. La réforme du droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil. Paris: Dalloz, 2016, pp. 6-17.
[38] Aludo aqui aos “filipismos”, i.e. às tantas lacunas, antinomias e obscuridades que certa doutrina detectava nas Ordenações Filipinas, assim as nomeando porque elaboradas por ordem de Filipe II, de Castela, ao ensejo da conquista de Portugal. O termo foi pioneiramente utilizado por José Virissimo Alvares da Silva, resgatando uma tradição crítica de nomes atribuídos às faltas cometidas pelos compiladores de Justiniano (“Tribonianismos”, referente ao compilador Triboniano) e do visigodo Alarico (“Anianismos”, referente ao compilador Aniano). A passagem é a seguinte: “No Codigo Portuguez, que hoje para comnosco he authentico, entre outras causas da sua obscuridade, a principal, que podemos considerar, he a infinidade de erros, que os ultimos Compiladores lhe inferírão, os quaes denotaremos com o nome de Filippismos” (SILVA, José Virissimo Alvares da. Introducção ao Novo Codigo ou Dissertação Crítica sobre a principal causa da obscuridade do nosso Codigo Authentico. Lisboa: Regia Officina Typografica, 1780, pp. 6-7).