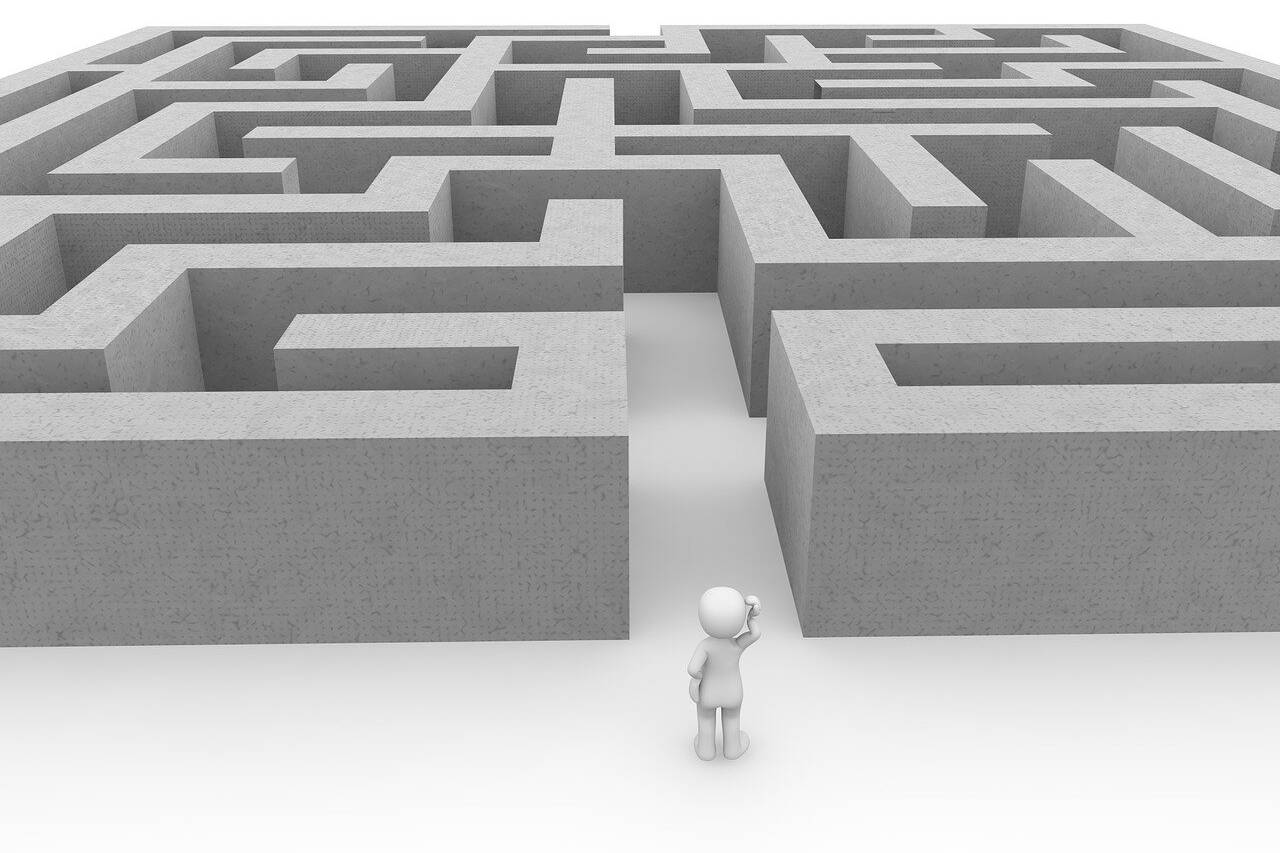Mairan Gonçalves Maia Junior**
Sumário. 1. A babel terminológica das formas testamentárias e a ausência de segurança jurídica. 2. Do “legado universal”. 3 O codicilo “Bill Gates”. 4. O fideicomisso-trust e suas incertezas. Conclusões.
No volume precedente deste Boletim IDIP-IEC nosso texto versou a insegurança jurídica derivada das propostas apresentadas pelo PL 4/2025 à sucessão legítima. Completamos, agora, o exame, apontando as razões pelas quais a mesma insegurança derivará das regras propostas pelo mencionado Projeto de Lei à sucessão testamentária. Pois, à censurável vagueza na linguagem, acrescem contradições intrassistemáticas.
- A babel terminológica das formas testamentárias e a ausência de segurança jurídica
No que se refere à sucessão testamentária, alguns pontos necessitam de melhor reflexão, como se verifica da análise da disciplina proposta ao testamento.
O primeiro aspecto a ressaltar é a alteração do art. 1.860, que elimina a necessidade de o testador ter discernimento para testar validamente. Pequena modificação, com graves consequências.
A palavra “discernimento” enfatiza a necessidade de o testador ter ciência e conhecimento dos efeitos de suas ações e atos de disposição mortis causa. Pressupõe a consciência para a prática do ato e de seus efeitos. Pelo contrário, é imprescindível que a lei reforce possuir o testador discernimento, pois sua exigência tutela todos aqueles que, apesar de não terem sido formalmente interditados, e, portanto, serem juridicamente capazes, não conseguem compreender com exatidão a extensão e os efeitos do ato de testar, como, com frequência, ocorre com a população mais idosa ou com enfermidades neurológicas. A alteração pretendida é prejudicial principalmente para os idosos e as pessoas com deficiência mental ou intelectual.
Não se pode deixar de considerar ter sido bíblica a inspiração das propostas no tratamento das formas das espécies de testamentos ordinário, pois a falta de uniformidade e a diversidade nas denominações utilizadas cria verdadeira babel terminológica.
A confusão inicia-se no parágrafo único do art. 1.862, o qual dispõe:
“Art. 1.862. São testamentos ordinários:
I – O público;
II – O cerrado;
III – O particular.
Parágrafo único. Os testamentos ordinários podem ser escritos, digitados, filmados ou gravados, em língua nacional ou estrangeira, em Braille ou Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS), pelo próprio testador, ou por outrem, a seu rogo.”
O referido parágrafo trata de modo assistemático de três aspectos do testamento: i) as formas testamentárias: “escritos”, “digitados”, “filmados” ou “gravados”; ii) de como pode ser expressa a vontade do testador: “língua nacional”, “língua estrangeira”, “Braille” e “Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS”; iii) por quem o testamento pode ser feito: “pelo próprio testador” ou “por outrem a seu rogo”.
As disposições do parágrafo único referem-se a todas as espécies ordinárias de testamento, e, por esta razão, a previsão viola vários dispositivos do Código Civil, como, por exemplo, o art. 215, que estabelece a obrigatoriedade de a escritura pública ser em vernáculo, vedando-se a utilização de idioma estrangeiro.
Por referir-se a todas as espécies de testamentos ordinários, o dispositivo conflita com propostas formuladas para os arts. 1.864, I, 1.865, 1.866, 1.867, os quais estabelecem meios específicos para testar, nas hipóteses que regem.
A terminologia utilizada nos vários artigos que tratam dos “meios de testamento” não é uniformizada, como seria de rigor e gera confusão, e em alguns pontos é contraditória.
Confiram-se os artigos:
- 1.864, I: “ser escrito, e, também gravado em sistema digital de som e imagem”;
- 1.864, II: “escrito” (…) “o testamento escrito, depois de lavrado o instrumento, deve ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador ou pelo testador ao oficial. Em seguida à leitura, o instrumento será assinado pelo testador e pelo tabelião que deverá, obrigatoriamente, realizar a gravação do ato em sistema digital de som e imagem.” (trata-se da gravação da assinatura e leitura do testamento escrito)
- 1.865: “o testamento público será obrigatoriamente realizado mediante gravação em sistema digital de som e imagem.”
- Testamento público de pessoa com deficiência auditiva:
- 1866: “O testamento público da pessoa surda ou com deficiência auditiva, total ou parcial, será obrigatoriamente gravado em sistema digital de som e imagem”.
A norma não é clara se a única forma admitida para a pessoa com deficiência auditiva é a utilização de áudio e vídeo, ou se a gravação em sistema de áudio e vídeo se refere ao ato de testar por escrito, como previsto no art. 1.864, II e III;
A regra refere-se a “pessoa surda ou com deficiência auditiva, total ou parcial”, tratando indistintamente as pessoas completamente surdas com as que possam ter comprometimento parcial da audição, as quais poderiam fazer uso de outras formas de testar, como hoje o fazem.
- Testamento público de pessoa com deficiência visual:
- 1.867: “por qualquer forma, com a gravação obrigatória do ato em sistema digital de som e imagem.” (A gravação referida é do ato de testar e não do meio utilizado para o testamento)
Quanto ao testamento cerrado, dispõe o PL 04/2025:
- 1.868: “O testamento escrito ou gravado em sistema digital de som e imagem pelo testador”;
- 1.868, I: “o testador entregue a declaração escrita em documento físico ou o arquivo digital de som e imagem”.
- 1.868, parágrafo único: “Quando digitado o testamento cerrado, o subscritor deve numerar e autenticar, com a sua assinatura, todas as páginas; quando gravado em sistema digital de som e imagem. (O caput diz “escrito”).
- 1.871: “O testamento pode ser manuscrito, gravado ou digitado em língua nacional ou estrangeira, em Braille ou arquivo digital acessível”. (Nos artigos anteriores refere-se somente a testamento escrito, e não manuscrito)
- 1.872: “testamento cerrado gravado em arquivo digital de áudio visual”. (Referindo-se a pessoa que não saiba ou não possa ler).
- 1.873: “testamento cerrado por escrito ou por gravação em sistema digital de som e imagem”;
Por fim, sobre o testamento particular, o PL 04/2025 diz o seguinte:
- 1.876, caput “ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico, ou pode ser gravado em sistema digital de som e imagem”;
- 1.876, § 3º.: “sistema digital de som e imagem”;
- 1.878: “por programa de gravação, reconhecerem as suas imagens e falas”;
- 1.879: “Em circunstâncias excepcionais declaradas pelo testador, o testamento particular escrito e assinado de próprio punho ou em meio digital, ou gravado em qualquer programa ou dispositivo audiovisual pelo testador”.
Os artigos confundem sistema digital com analógico e a gravação e o vídeo podem ser efetuados em quaisquer dos dois sistemas. Não especificam o que se entende por “programa de gravação” e o tratam como alternativa a “dispositivo audiovisual” (art.1.879).
Ora menciona “sistema digital de som e imagem”, ora refere-se a “arquivo digital áudio visual” ou “arquivo digital de som e imagem”, ora ainda, tão somente a “gravado”, sem especificar se somente em áudio ou áudio e vídeo. São também utilizados os termos “filmados ou gravados” (art. 1.862, § único), a indicar testamentos feitos de formas diversas. Em vários outros dispositivos usa-se a expressão “gravação” sem que se especifique se se trata de testamento feito em áudio ou filmado (vídeo).
Em síntese: a “torre de babel” de designações de formas testamentárias gera insegurança, confusão e dúvidas, a demonstrar a falta de rigor técnico utilizado na redação dos dispositivos da sucessão testamentária.
Os artigos que tratam das formas testamentárias não estabelecem nenhum mecanismo de segurança para os testamentos público, cerrado ou particular digital, filmado ou gravado “pelo próprio testador ou por outrem a seu rogo”. Nem mesmo o certificado digital, padrão mínimo de segurança para os documentos digitais, é exigido. Há inequívoca necessidade de exigência de mecanismos de segurança. A modernização das formas de testar é bem-vinda, desde que acompanhada de padrões mínimos de segurança que garantam a integralidade, a integridade e a autenticidade das declarações de última vontade, aspectos não atendidos nas mudanças propostas.
Em relação ao testamento cerrado há, ainda, o inexplicável parágrafo único do art. 1.869, que estabelece:
“Art. 1.869.
“Parágrafo único. É permitido ao testador inserir no mesmo invólucro em que colocado o instrumento ou o arquivo digital do testamento, outros dispositivos eletrônicos que tenham sido dispostos em favor de herdeiros ou legatários, cabendo ao tabelião mencioná-los no auto de aprovação.”
Qual a razão para se permitir a inserção no invólucro que cerra o testamento cerrado feito por instrumento particular ou de forma digital de “outros dispositivos eletrônicos que tenham sido dispostos em favor de herdeiros ou legatários”, mas que não foram apresentados e submetidos ao tabelião? Que dispositivos seriam estes e sobre o que disporiam?
Cria-se verdadeiro “invólucro de Pandora”, pois não se sabe o que dele sairá quando for aberto!
A segurança que o testamento exige é inexoravelmente comprometida pela falta de técnica e precisão das alterações legislativas propostas em relação às formas testamentárias.
- Do “legado universal”
Em relação ao legado, o art. 1.946 cria o legado de usufruto “que pode abranger a totalidade dos bens hereditários”.
A redação proposta ao art. 1.946 pode gerar equívoco conceitual. Segundo Pontes de Miranda: “Instituição de herdeiro é a nomeação feita pelo testador, de uma ou mais pessoas, naturais ou jurídicas, para lhe sucederem a título universal; isto é, no todo, ou em quota da herança. Mas, além deste instituir com o caráter de sucessor universal, pode o testador dar lei sobre coisas suas e fazê-las passar, por título singular, a quem lhe apraz. Objeto ou quantia, sobre que recaia, é sempre a título particular, in singulas res, o legado”[1]. No mesmo sentido, Orosimbo Nonato[2].
Ainda que todos os bens da herança possam vir a ser objeto de legados, a previsão de legado de usufrutos abrangendo “a totalidade dos bens hereditários” não guarda conformidade com a concepção de legado, por se referir ao todo do acervo hereditário.
Como esclarece com exatidão Pontes de Miranda: “Herança é quota, quociente, ou qualquer relação com o todo, isto é, quantidade abstrata, ou resultado de divisão que se vai fazer ou feita, porém não unidade em si, algo de irrelacionado com o todo, porque isto é legado”[3]. Por outras palavras, a referência à “totalidade” desnatura o legado.
Ademais, o testador não pode instituir direito real de usufruto incidente sobre os bens da legítima, como a proposta, pela sua redação, possibilita. Portanto, a disposição traz insegurança em relação aos bens da herança, pois o usufruto compromete a utilidade econômica do direito de propriedade.
- O Codicilo “Bill Gates”
Pretende-se acrescer parágrafo 1º ao art. 1.881, que trata do codicilo, prevendo-se a possibilidade de o codicilo ser utilizado para disposições patrimoniais que correspondam a até 10% (dez por cento) da herança[4]. A depender do montante da herança 10% (dez por cento) pode representar valor significativo e sua quantificação deve ser computada para fins de cálculo da legítima e da parte disponível, não podendo ser desconsiderada.
E se o codicilo não respeitar o “limite de 10% (dez por cento) da herança, quais as consequências? Incidiriam as disposições da redução por inoficiosidade? A regra é completamente omissa a respeito.
Não se pode desconsiderar que o codicilo não se reveste das formalidades e solenidades ínsitas ao testamento, motivo pelo qual não apresenta a mesma segurança jurídica daquele, sendo restrito legalmente a disposições de pequeno valor.
A ampliação do conteúdo do codicilo contradiz as finalidades próprias e inerentes ao testamento, introduzindo mecanismo jurídico que gera dispersão no trato do patrimônio hereditário e a possibilidade da existência de disposições de contradição entre disposições testamentárias e as do codicilo.
A proposta ao artigo levou um aluno do mestrado em direito civil da PUC/SP a nominá-lo “Codicilo Bill Gates”.
- O fideicomisso-trust e suas incertezas
As falhas, as omissões e as contradições existentes na regulamentação do fideicomisso também são graves.
A disciplina inaugurada com as mudanças propostas a partir do art. 1.951 cria “figura híbrida” de fideicomisso com elementos de Trust, originando estrutura jurídica assistemática e disforme, plena de omissões e fonte de insegurança para os herdeiros legitimários. Nada obsta a instituição do Trust no Brasil, dependendo somente de vontade política, não sendo necessária sua instituição de modo furtivo.
Em virtude das alterações que se propõem ao fideicomisso, praticamente descaracterizando-o como espécie de substituição testamentária, duas observações iniciais devem ser feitas. A primeira, a ênfase das mudanças têm por enfoque o patrimônio e sua exploração econômica, e não os sujeitos da sucessão e a garantia de seus direitos. A segunda, a possibilidade de a estrutura desenhada possibilitar lesar direitos de herdeiros legitimários.
Exemplifique-se com a redação proposta ao art. 1.952-A, que estabelece:
“Art. 1.952-A. Podem ser objeto do fideicomisso quaisquer bens e direitos, incluindo bens digitais.”
A redação do artigo pode induzir a interpretações que levem ao entendimento de que os bens da legítima poderiam ser objeto de fideicomisso, mesmo considerando o disposto no art. 1.846, caput, mantido inalterado. Na instituição do fideicomisso, o fideicomitente pode dispor tão somente sobre a parte disponível, ou seja, 50% (cinquenta por cento) dos bens que componham seu patrimônio.
Os arts. 1.951 e 1.952-B, inciso II, preveem a possibilidade de o fiduciário ser pessoa jurídica. No entanto, a ausência de previsão legal do regime jurídico das pessoas jurídicas fiduciárias compromete a segurança do instituto, e, em particular, os direitos dos herdeiros legitimários.
No fideicomisso tradicional, o fiduciário é titular do direito de propriedade resolúvel dos bens e direitos que lhe foram transmitidos pelo fideicomisso. Na versão de “fideicomisso-trust” prevista na proposta, o fiduciário aproxima-se mais da figura do gestor ou administrador de patrimônio do que de seu titular, como ressalta nítida a possibilidade de sua remuneração.
O inciso II do art. 1.952-B contém falha técnica, pois prevê a possibilidade de o fideicomisso ser vitalício se “qualquer dos fideicomissários for pessoa natural”[5]. Ocorre que, com a transmissão dos bens objetos do fideicomisso ao fideicomissário, pessoa natural, extingue-se o fideicomisso, sendo, portanto, impróprio falar-se em “fideicomisso vitalício” em relação ao fideicomissário, pessoa natural.
O inciso padece, ainda, de grave omissão, pois nos casos em que fiduciários e fideicomissários sejam pessoas jurídicas com prazo indeterminado de existência, não diz o que ocorrerá com os bens objeto do fideicomisso decorrido o prazo máximo de 20 (vinte) anos previsto como limite para o fideicomisso nestas hipóteses.
O inciso IX do art. 1.952-B pretende legitimar a administração do patrimônio fiduciário por empresas gestoras de bens e instituições financeiras. Inequivocamente, a possibilidade traz custos, e o dispositivo não é claro sobre quem arca com os custos, pressupondo-se que devam ser suportados pelo próprio patrimônio administrado.
São significativas as lacunas na disciplina do fideicomisso, principalmente no que se refere à definição dos direitos, dos deveres e das responsabilidades das pessoas jurídicas nomeadas fiduciárias.
Conclusões
O PL 04/2025 propõe alterar 47% (quarenta e sete por cento) dos artigos que compõem o Livro das Sucessões, entretanto, quando se analisa as mudanças apresentadas, constata-se que cerca de 42% são desnecessárias, ineficazes ou trazem insegurança para a sucessão mortis causa.
Segundo dito popular “uma imagem vale mais do que muitas palavras”. Parafraseando-o, pode-se concluir que as incertezas e as inseguranças trazidas por muitas das alterações veiculadas pelo PL 04/2025, em relação às regras de sucessão, podem ser bem ilustradas pelo texto proposto ao art. 1.822, “verbis”:
“Art. 1.822. A declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem; mas, decorridos cinco anos da publicação do primeiro edital, os bens arrecadados passarão ao domínio do Município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal.” (grifou-se)
Não tem sentido, e carece de racionalidade, considerar o “prazo de publicação de primeiro Edital” como termo inicial para arrecadação dos bens vacantes. A proposta insere mais um elemento de incerteza na sucessão, pois dificulta a aferição objetiva do prazo, como, por exemplo, se vier a ser alegada a nulidade, falta ou irregularidade da publicação do primeiro edital ou se houver dúvida quanto à data de sua publicação, ou mesmo se ele for republicado por algum motivo.
Trata-se de sugestão que nenhuma melhoria traz ao processo sucessório e é contraditória com a proposta que fixa o termo inicial para prescrição da petição de herança prevista no art. 1.824, como sendo “a abertura da sucessão”.
O fato inaugurador da abertura da sucessão é a morte e, neste momento, são definidas as normas vigentes e incidentes na sucessão aberta, a capacidade, a legitimidade sucessória ativa e passiva, a herança e o momento de transmissão do patrimônio hereditário, propiciando-se a definição dos elementos do fenômeno sucessório com base em critério uniforme e objetivo.
Em síntese, a apresentação que se faz do projeto de lei, não corresponde às características do produto ofertado, ou seja, o PL 04/2025, em relação às regras de sucessão, não atende ao que os cidadãos brasileiros merecem e precisam.
* Citar como: MAIA JUNIOR, Mairan Gonçalves. A (In)segurança jurídica nas regras de sucessão testamentária e as propostas do Projeto de Lei n. 04/2025. In: MARTINS-COSTA, Judith; MARTINS, Fábio; CRAVEIRO, Mariana; XAVIER, Rafael (Orgs.). Boletim IDiP-IEC. Vol. LXXVI, Canela-São Paulo. Publicado em: 12.11.2025.
** Professor visitante do Instituto de Direito Europeu e Comparado da Faculdade de Direito da Universidade de Oxford, Reino Unido. Estágio Pos-doutoral realizado no Instituto Max-Planck de Direito Internacional Privado e Comparado, em Hamburgo, Alemanha. Professor Livre-Docente em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Doutor em Direito, na área de Direito Civil e Mestre em Direito, na área de Direito das Relações Sociais, títulos obtidos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor Assistente-Doutor, sendo Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação, no núcleo de Direito Civil, dessa Universidade. Professor dos Cursos de Especialização em Contratos e Processo Civil da PUC/COGEAE. Pesquisador no Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt, Alemanha. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, graduado em Administração de Empresas, com habilitação em Administração Pública pela Universidade Estadual do Ceará (1987). Desembargador Federal do TRF da 3ª Região. Juiz do TRE-SP (2025-2027). Presidente do TRF da 3ª Região (2020-2022). Vice-Presidente do TRF da 3ª Região (2016/2018). Diretor Presidente da Escola de Magistrados do TRF da 3ª Região (2012/2014). Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, (2007/2009). Juiz Federal (1992-1999), Juiz do Estado de São Paulo (1992).
[1] Pontes de Miranda, Francisco Cavalcanti (Tratado dos Testamentos, item 559, p. 21, Rio de Janeiro: Livraria, Papelaria e Lytho-Tipografia Pimenta de Mello e Cia, 1930).
[2] Orosimbo Nonato (In: Estudos sobre a Sucessão Testamentária, vol. II, p. 174, Rio de Janeiro: Ed. Revista Forense, 1957).
[3] Ob. cit. p. 22.
[4] § 1º Considera-se de pouca monta ou de pouco valor a disposição que não exceder a 10% (dez por cento) do monte mor partilhável.
[5] Art. 1.952-B. “A disposição testamentária que institui o fideicomisso deve conter, no mínimo, os seguintes elementos: […] II- o prazo de vigência, podendo ser vitalício, se o fiduciário ou qualquer dos fideicomissários for pessoa natural, ou por até 20 (vinte) anos, se todos os fideicomissários e o fiduciário forem pessoas jurídicas com prazo indeterminado de existência;”