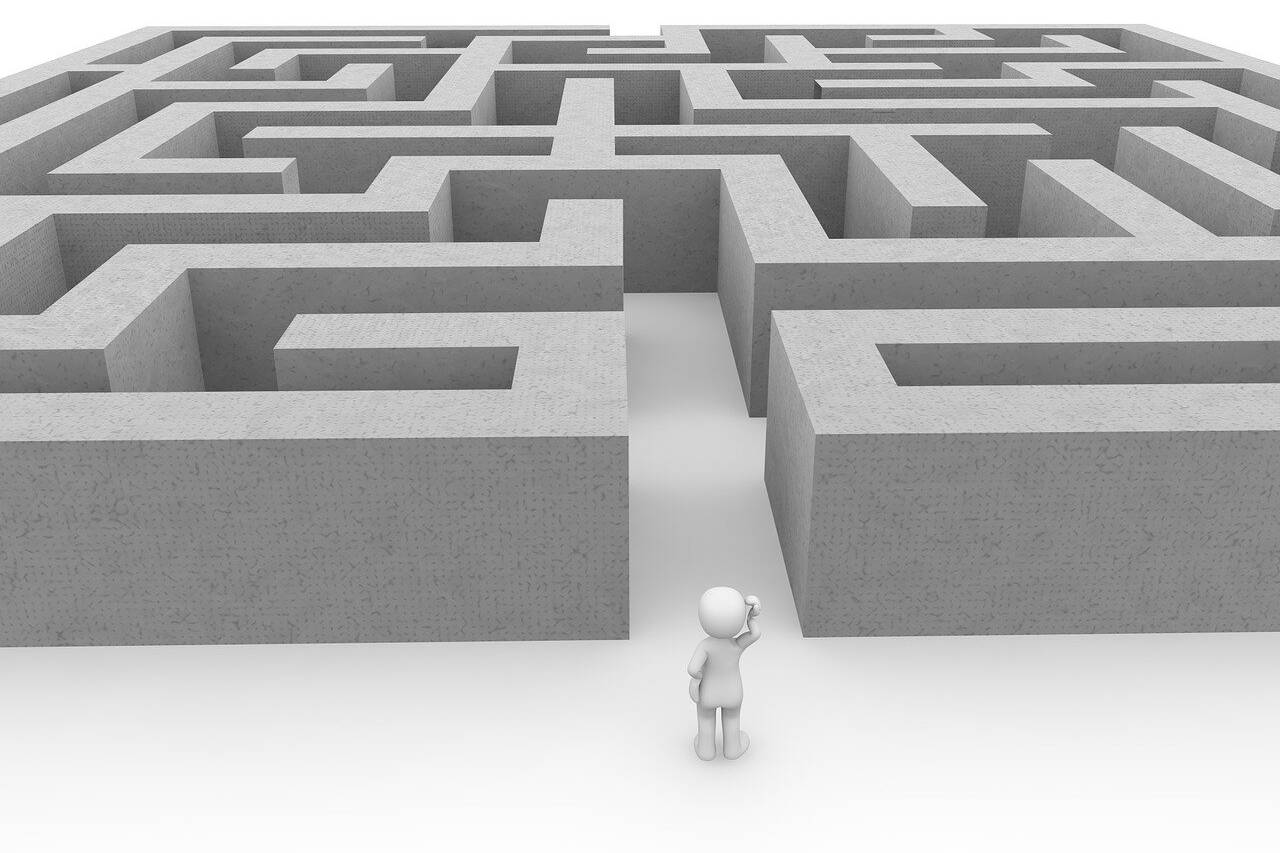Júlia Vieira Froes**
Sumário. 1. Introdução: a arquitetura do sistema brasileiro de responsabilidade civil; 2. A corrosão silenciosa dos fundamentos da responsabilidade civil; 3. O PL 04/2025 e a responsabilidade civil total: expansão funcional, erosão dos pressupostos e colapso sistêmico 3.1. Da reparação à onipotência: a panfuncionalização da responsabilidade civil; 3.2. A erosão irrestrita dos pressupostos da responsabilidade civil. 4. Conclusão: o desafio da restauração.
- Introdução: a arquitetura do sistema brasileiro de responsabilidade civil
O termo “responsabilidade”, em sua raiz, remonta à fórmula latina spondeo, que designava o ato de se comprometer solenemente, obrigar-se, garantir. “Responder”, portanto, implica, desde a origem, colocar-se “como garante do desenrolar dos fatos vindouros”[1]. Na tradição do direito civil, a responsabilidade é o instituto por meio do qual se regula a imputação de prejuízos a alguém. Por meio dela, instituem-se as regras que indicam as circunstâncias nas quais a obrigação de suportar determinado dano será transferida da vítima para outro sujeito.
Num mundo em que os bens são efêmeros e as interações sociais, constantes, pode-se afirmar, com Pessoa Jorge, que “a possibilidade de prejuízos – e mais do que a possibilidade, a probabilidade e até a certeza deles – constitui aspecto essencial de todos os direitos”[2]. Por essa razão, nenhum ordenamento jurídico, em qualquer tempo ou lugar, pretendeu conferir resposta reparatória a todos os danos. O problema fundamental da responsabilidade civil está, justamente, em selecionar, entre os diversos danos que ocorrem na vida cotidiana, aqueles que devem ser indenizados. Ao fazê-lo, ela estabelece uma fronteira entre as esferas das ações permitidas e das ações proibidas[3], demarcando, assim, o espaço de liberdade individual.
Isso se fez de diferentes formas no decorrer da história. Enquanto alguns ordenamentos restringiram a responsabilidade a casos determinados[4], o Código Civil francês erigiu uma cláusula geral de reparação de danos, cuja largueza era temperada pela exigência da faut civile. O direito civil brasileiro optou por seguir o exemplo francês, tendo construído seu sistema a partir da categoria do ato ilícito[5]. Na vigência do Código de 1916, impunha-se a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violasse direito e causasse prejuízo a outrem, a obrigação de repará-lo. Esse regime foi substancialmente preservado nos artigos 186 e 927, caput, do Código de 2002.
A abrangência da cláusula geral de reparação de danos era, portanto, compensada pela delimitação de firmes pressupostos, cuja configuração seria imprescindível à atuação do mecanismo ressarcitório: ato ilícito, nexo causal, dano. A culpa, por sua vez, consistia no principal fator de imputação da responsabilidade. As situações excepcionais em que se imputava a determinado sujeito a obrigação de reparar um dano na ausência de algum desses pressupostos ou com fundamento em outro fator de imputação – risco – eram, ao menos em princípio, estabelecidas expressa e previamente em lei. Essa era a lógica que, amparada na tradição jurídica, servia de alicerce ao sistema brasileiro de responsabilidade civil.
- A corrosão silenciosa dos fundamentos da responsabilidade civil
Paulatinamente, porém, foram erodidos os filtros tradicionais da responsabilidade civil. Em situações cada vez mais frequentes, passou-se a adotar o risco como fator de imputação da obrigação de reparar. Embora esta fosse uma tendência geral, identificada em ordenamentos jurídicos de todo o mundo, no Brasil trilhou-se um caminho peculiar. Ainda na década de 90, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu um regime geral de responsabilidade sem culpa para os fornecedores de produtos e serviços. Mais tarde, destoando do modelo adotado por outros países[6], o ordenamento jurídico brasileiro criou uma cláusula aberta de responsabilidade objetiva pelo risco (art. 927, parágrafo único[7]), com projeção inédita e extrema abrangência. A partir de então, também nas relações civis não consumeristas, a responsabilidade sem culpa deixou de estar submetida às hipóteses excepcionais indicadas na lei.
Se, por um lado, o legislador escolheu dar permissão à discricionariedade do julgador, transferindo-lhe a incumbência de definir, ex post, parte relevante das situações em que se configuraria a responsabilidade civil objetiva, por outro lado, os tribunais abraçaram tal encargo sem hesitação. A jurisprudência, com o apoio da doutrina, transformou profundamente o sistema brasileiro de responsabilidade civil ao longo das últimas décadas.
Empreendeu-se, em relação ao nexo de causalidade, uma clara flexibilização. Não apenas se admite – à revelia de uma previsão legislativa – a presunção desse pressuposto em determinadas situações, mas também se aplicam, sem suficiente rigor técnico, as inúmeras teorias em torno do nexo causal, de modo a reputá-lo configurado sempre que isso seja necessário para garantir reparação à vítima[8].
Até mesmo o dano foi relativizado. Embora não se tenha ainda dispensado expressa e abertamente a sua configuração para a incidência da responsabilidade civil, constata-se a proliferação desordenada de novas categorias de dano ressarcíveis[9] e o uso recorrente – e sobretudo retórico – da figura do “dano in re ipsa” para recusar, em várias situações, a necessidade de prova do dano. Em ambos os casos, já se vislumbra a imputação da obrigação de indenizar independentemente da existência de um concreto prejuízo, e a instrumentalização da responsabilidade civil com o propósito de legitimar um punitivismo disfarçado.
Assim, nos últimos anos se iniciou a desconstrução da estrutura lógica que constituía, originalmente, o sistema de responsabilidade civil brasileiro. O intenso e célere movimento jurisprudencial afastou-a da sua vocação originária, distanciou-a dos seus pressupostos clássicos, atribuiu-lhe novos traços e funções. A sua linguagem, como bem percebeu Judith Martins-Costa, já se revelava cacofônica. Ela havia deixado de ser um “articulado e coerente modelo jurídico” para transformar-se em “um confuso quebra-cabeças”[10].
- O PL 04/2025 e a responsabilidade civil total: expansão funcional, erosão dos pressupostos e colapso sistêmico
Foi nesse contexto que despontou, de forma desavisada, o Projeto de Lei nº 04, de 2025 (PL 04/2025). Mais que promover uma atualização do Código Civil, o referido Projeto pretende reestruturar o direito privado no Brasil. E, especialmente no que diz respeito à responsabilidade civil, tal pretensão representa, em verdade, a ruptura definitiva com a tradição dos institutos jurídicos e a desfiguração completa do sistema que um dia existiu[11].
O PL 04/2025 não apenas consolida e explicita algumas das transformações que já haviam sido operadas pela jurisprudência, como também as radicaliza. O uso exagerado de cláusulas gerais e conceitos indeterminados – que se contam às dezenas no texto proposto – confere tanta abertura, fluidez e maleabilidade às regras de incidência da responsabilidade civil que se torna impossível identificar seus traços distintivos. Evanesce sua essência, perde-se sua função. Dissipadas as fronteiras que demarcavam a área de atuação da responsabilidade, esta se hipertrofia. Pretende-se transformá-la no eixo central do direito privado. Nada lhe escapa.
- Da reparação à onipotência: a panfuncionalização da responsabilidade civil
Esse agigantamento da responsabilidade civil, que leva à sua deformação, revela-se, inicialmente, na tentativa de atribuir-lhe, além da clássica função reparatória, outras várias funções: preventiva, punitiva, pedagógica, assecuratória. Ao mesmo tempo em que se tenta concretizar aquela que já vinha sendo vaticinada como a sua nova vocação – dar resposta, de forma generalizada, a qualquer prejuízo e não deixar nenhuma vítima sem ressarcimento[12] –, também se lhe confere expressamente a incumbência de evitar danos e reprimir condutas.
A pretensão ambiciosa da reforma é bem ilustrada pelo art. 927-A, que acaba interferindo na disciplina da “tutela preventiva do ilícito”. Não há, quanto ao conteúdo do artigo, grande novidade. O direito processual já regula a tutela inibitória e a tutela de remoção do ilícito[13]. O que surpreende é pretender-se absorver essa disciplina e inseri-la no título do Código Civil destinado à responsabilidade.
Há muito já se sabe, com base na lição de Pontes de Miranda, que “há mais atos ilícitos ou contrários a direito que os atos ilícitos de que provém obrigação de indenizar”[14]. A tutela do ilícito não se esgota na responsabilidade civil nem com ela se confunde. Esta, como mecanismo de imputação de prejuízos, não pode ser pensada quando eles inexistem. O texto do art. 927-A, contudo, parece expandi-la a ponto de fazê-la se confundir com a tutela do ilícito, além de atribuir-lhe uma função preventiva que revela uma contradictio in terminis: se a responsabilidade é, na essência, instrumento destinado à reparação de danos, vocacionada, pois, a atuar ex post facto, como seria possível conceber sua atuação preventiva?
- A erosão irrestrita dos pressupostos da responsabilidade civil
As contradições do regime proposto pela reforma e a panfuncionalização[15] da responsabilidade civil talvez sejam um reflexo da sua completa desestruturação. Empreende-se uma flexibilização irrestrita dos seus pressupostos. Nenhum deles remanesce como condição inafastável à atuação do mecanismo ressarcitório.
O Código Civil vigente, na linha da tradição do direito brasileiro, edifica o sistema sobre a categoria do ato ilícito. Como regra, a obrigação de reparar é imputada a quem, por conduta antijurídica, causa dano a outrem (arts. 186 e 927, caput). A alteração proposta para o art. 927 é eloquente: retirando-se do texto a menção à ilicitude e a remissão aos arts. 186 e 187, prevê-se, simplesmente, que “aquele que causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo”. E, no parágrafo único, prescreve-se a obrigação de reparar o dano daquele: (i) cujo ato ilícito o tenha causado; (ii) que desenvolve “atividade de risco especial”; e (iii) que é “responsável indireto por ato de terceiro a ele vinculado, fato de animal, coisa ou tecnologia a ele subordinado”.
Parecem estabelecer-se, então, três fundamentos que, indistintamente, autorizam a incidência da responsabilidade civil. O texto legislativo não só incorre em imprecisões técnicas – ao, por exemplo, confundir o ato ilícito, pressuposto da responsabilidade, com culpa e risco, nexos de imputação –, como também dá margem a interpretação capaz de tornar regra o que sempre foi exceção: a responsabilidade civil por ato lícito.
Mas a reforma vai além. No sistema vigente, embora a culpa não seja considerada condição indispensável da obrigação indenizatória, a regra não deixa de ser a responsabilidade subjetiva, ainda que temperada por casos especiais, e cada vez mais frequentes, de responsabilidade objetiva, com fundamento no risco[16]. O PL 04/2025 altera essa realidade: ele não apenas mantém a cláusula geral de imputação objetiva, como a torna mais abrangente.
No art. 927-B, estipula-se a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, “quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. A responsabilidade nasce, nesses casos, quando a atividade – “mesmo sem defeito e não essencialmente perigosa” – criar um “risco especial e diferenciado” aos direitos de outrem. Não se explica o que seria esse risco ao qual o texto proposto faz referência por meio de uma pluralidade de expressões dissonantes[17]. Contenta-se em remeter a sua avaliação ao julgador, que, para determinar a sua configuração, poderá valer-se de critérios como a “estatística”, a “prova técnica”, as “máximas da experiência”, “entre outros”. Por sua excessiva vagueza, o dispositivo deixa vasto espaço à discricionariedade judicial.
Tal fato revela-se ainda mais grave quando se considera que se está a tratar de responsabilidade por ato lícito. Com efeito, se o art. 927 distingue a responsabilidade por ato ilícito da responsabilidade com fundamento na “atividade de risco especial”, pode-se entender que o legislador pretendeu dispensar a antijuridicidade para a incidência do art. 927-B, além de desconsiderar qualquer distinção entre risco permitido e proibido. Assim, ao que tudo indica, a obrigação de reparar o dano surgirá, com fundamento no referido artigo, independentemente de se identificar na conduta qualquer nota de ilicitude ou agravamento do risco permitido.
Também o nexo de causalidade é relativizado. Como visto, a nova redação do art. 927, III, prevê a obrigação de reparar o dano do “responsável indireto”. E o art. 944-B, em franca contradição com o art. 403, admite expressamente a reparação de danos indiretos e futuros.
As alterações legislativas mencionadas, que concretizam uma mitigação relevante do ato ilícito, da culpa e do nexo causal, parecem indicar um deslocamento do foco do ato ilícito para o dano e uma inversão da ordem dos pressupostos: desde que verificado um prejuízo, empenha-se em encontrar as razões para a sua reparação. Poderia se supor, então, que o dano remanesceria como o último pressuposto indispensável da responsabilidade civil. Ele seria, entre todos, o único indiscutível, incontroverso: “Pas de préjudice, pas de responsabilité civile”[18]. Mas a própria reforma contradiz, em outros dispositivos, tal impressão. Também o dano pode ser – agora explicitamente – dispensado.
O PL 04/2025 flexibiliza, inclusive, a prova do dano patrimonial. No art. 944-B, prevê-se a possibilidade de, em casos de “pouca expressão econômica”, o juiz calcular o dano patrimonial por estimativa, “especialmente” nos casos em que a produção da prova do dano for “demasiadamente difícil ou onerosa”. Dispensa-se, então, a prova da extensão do dano para a sua quantificação. Não obstante o dispositivo pareça condicionar o cálculo por estimativa à inexistência de dúvidas quanto à “efetiva ocorrência de danos emergentes ou lucros cessantes”, submete esse juízo às “máximas de experiência do julgador”. Assim, põe-se inteiramente nas mãos do juiz definir se ocorreu um dano – não com fundamento nas provas produzidas ou em critérios objetivos, mas, apenas, com base em suas próprias “máximas de experiência”. Há aí uma abertura desmedida – e legitimada normativamente – ao decisionismo judicial.
Além disso, excepcionando a regra clássica de que a indenização se mede pela extensão do dano, o §2º do art. 944 estabelece que, em alternativa à reparação de danos patrimoniais e a critério do lesado, a indenização poderá compreender “um montante razoável correspondente à violação de um direito ou, quando necessário, a remoção dos lucros ou vantagens auferidos pelo lesante em conexão com a prática do ilícito”.
A “indenização” a que se refere o dispositivo, deixa de ser, nesse caso, verdadeira indenização. “Indenizar” vem da expressão latina “in-dene”, que significa tornar sem danos, eliminando os prejuízos[19]. O dano, portanto, está na raiz da palavra. Se o “montante razoável” devido pelo ofensor for determinado não pela extensão do prejuízo, mas pela violação do direito ou pelos lucros e vantagens auferidos, já não se estará diante de uma indenização, mas de uma sanção. Aqui se nota o engano da percepção segundo a qual a reforma apenas deslocaria o enfoque do ato ilícito para o dano. No art. 944 – e em outros – o movimento é inverso: em vez de se colocar no centro a vítima, e se priorizar a reparação, abraçam-se outras funções – preventiva e punitiva –, dispensa-se o dano, e transforma-se a responsabilidade civil em mecanismo sancionatório.
É preciso ter consciência de que “para os juristas, as palavras constituem perigosos instrumentos de trabalho”[20]. O descuido terminológico no §2º do art. 944 é simbólico: emprega-se o termo com que já se está habituado – “indenização” – mas ele é ressignificado para expressar conceito que, na realidade, é incompatível com seu referente original. Por meio dessa técnica, pode-se alterar radicalmente o sistema criando a ilusão de que tudo permanece igual, ou legitimar uma responsabilidade civil punitiva sob o discurso – mais aprazível – de que a intenção é ampliar a tutela à vítima. O rigor conceitual não é uma formalidade vazia de sentido, mas exigência imprescindível à preservação do método jurídico e da própria ciência do direito.
Em relação ao dano moral, as alterações são ainda mais significativas. Não obstante se reconheça, na justificação do PL 04/2025[21], “a necessidade de contenção normativa da proliferação de várias etiquetas de lesões a interesses merecedores de tutela”, e se alardeie a intenção de “conceder segurança jurídica e mitigar a discricionariedade judicial”, as alterações propostas operam efeito reverso. O art. 944-A substitui o conceito clássico – por si suficientemente aberto e complexo – de dano moral, pelo conceito mais abrangente, forjado por doutrina e jurisprudência, de “dano extrapatrimonial”. Tal categoria é formatada como um gênero, um tipo de “guarda-chuva” capaz de compreender diversas espécies de dano não patrimonial. O texto ainda confere existência normativa a vários novos tipos de dano, ao fazer menção à “violação da esfera moral da pessoa (…) jurídica” (art. 944-A, caput), à “afetação em projetos de vida” (art. 944-A, §2º, I), e à “perda de uma chance” (art. 944-B, §2º).
Assim, o PL 04/2025 potencializa a proliferação de danos, em vez de contê-la. Agrava-se a desordem que já se verifica em relação à disciplina dos danos não patrimoniais. Estimula-se a multiplicação de várias figuras de dano, cujo acolhimento seguirá dependendo da arbitrariedade judicial. Assume-se o risco da sobreposição dessas espécies, com a consequente multiplicidade de indenizações decorrentes de um mesmo prejuízo. Tolera-se a existência de figuras – como o dano moral coletivo e o dano social – que servem à aplicação de penas privadas, travestidas de indenização. Sob a ilusória justificativa de se ampliar a proteção da pessoa, confina-se a liberdade de ação individual e aniquila-se a previsibilidade.
Ao relativizar também o dano – elemento que se supunha ser absolutamente incontornável –, a reforma empreende o passo final na flexibilização dos pressupostos da responsabilidade civil, que, a rigor, já havia sido iniciada pela doutrina e pela jurisprudência. Ela retira as últimas pedras da base sobre a qual estava edificado o nosso sistema.
- Conclusão: o desafio da restauração
A nova “responsabilidade civil”, como desenhada no PL 04/2025, perde-se em sua própria ambição: ao tentar converter-se em remédio contra todos os males da vida e expandir-se a domínios outrora inacessíveis, abdica de sua função essencial. Não lhe resta nenhum traço distintivo.
Como lembra a história de Babel, a ânsia por concentração e controle pode resultar em fragmentação. Se prevalecer o PL 04/2025, não mais existirá um modelo estruturado de responsabilidade civil. Todavia, é preciso reconhecer que, embora de modo menos ostensivo, o processo de erosão já avançava há anos, prenunciando o colapso sistêmico que o Projeto agora torna visível. Rejeitá-lo é, portanto, medida impreterível à restauração do sistema, mas não suficiente.
Ao fim e ao cabo, o PL 04/2025 talvez revele um mérito involuntário: a extravagância escancara, muitas vezes, a decadência que se oculta sob a aparência de ordem e a degeneração já normalizada, escondida pelo verniz polido de palavras ressignificadas. E, diante da verdade que, embora incômoda, sobressai estrepitosa, não resta outra alternativa senão denunciar a ruína do sistema e combatê-la, com técnica e persistência.
Se o Projeto não avançar, teremos de escolher entre dois caminhos. Ou se preserva tudo como está, ou se aproveita a oportunidade para corrigir os rumos da responsabilidade civil no Brasil. O sistema já se desintegrou. Restaurá-lo demandará mais que um esforço concentrado de curto prazo. Exigirá uma postura consistente e perseverante, e uma vontade resoluta de resgatar a forma, retomar o rigor metodológico, revigorar a consciência crítica e restituir ao direito sua coesão.
* Citar como: FROES, Julia Vieira. A Ruína Estrutural da Responsabilidade Civil no PL 04/2025: Da Expansão Desmedida à Desintegração do Sistema. MARTINS-COSTA, Judith; MARTINS, Fábio; CRAVEIRO, Mariana Conti; XAVIER, Rafael Branco (Orgs.) Boletim IDiP-IEC, vol. LXXIV. Publicado em 22.10.2025.
** Mestre e doutoranda em Direito pela UFMG. Advogada.
[1] VILLEY, Michel. Esboço histórico sobre o termo responsável. In: Revista Direito GV, v. 1, n. 1, p. 135-148, mai-2005, p. 136.
[2] PESSOA JORGE, Fernando de Sandy Lopes. Ensaio sobre os pressupostos da responsabilidade civil. Coimbra: Almedina, 1999, p. 33.
[3] MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha. Tratado de direito civil português. V. 2. t. 3. Coimbra: Almedina 2010, p. 424.
[4] É o caso, por exemplo, do BGB, que, seguindo a tradição pandectista, limitou a responsabilidade civil aos casos em que há violação a direitos absolutos ou em que a lesão é causada com dolo (DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de Daños. Madri: Civitas, 1999, p. 88.).
[5] GOMES, Orlando. Tendências modernas na teoria da responsabilidade civil. In: FRANCESCO, José Roberto Pacheco di. (org). Estudos em homenagem ao Professor Silvio Rodrigues. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 293.
[6] Embora o parágrafo único do Código Civil de 2002 tenha sido inspirado em dispositivos dos Códigos português e italiano, as normas estrangeiras estabelecem uma presunção de culpa do causador do dano nas hipóteses em que sua causa estiver vinculada ao exercício de uma atividade perigosa. Não chegam ao ponto, muito mais gravoso, a que chegou o direito brasileiro: impor ao agente a obrigação de responder pelo dano, independentemente de qualquer juízo de culpa – e, portanto, mesmo nas situações em que, no desenvolvimento regular de uma atividade, e tendo empregado todas as precauções exigíveis, cause a outrem algum prejuízo.
[7] In verbis: “Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.
[8] Cf., por exemplo, SCHREIBER, Anderson. Os novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007, p. 51-76.
[9] A propósito, permita-se remeter a FROES, Júlia Vieira. Novos Danos na Responsabilidade Civil: as fronteiras do dano moral ressarcível. Curitiba: Juruá, 2023.
[10] MARTINS-COSTA, Judith. A linguagem da responsabilidade civil. In: BIANCHI, José Flávio; MENDONÇA PINHEIRO. Rodrigo Gomes de; ARRUDA ALVIM, Teresa (Coords.). Jurisdição e Direito Privado: Estudos em homenagem aos 20 anos da Ministra Nancy Andrighi no STJ. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p. 389-418, p. 390.
[11] Cf., a propósito: FARIA, Juliana Cordeiro de. Entre o Simbólico e o Disfuncional: Riscos da Reforma da Responsabilidade Civil. In: Boletim IDiP-IEC, 07. mai. 2025. Disponível em: < https://canalarbitragem.com.br/boletim-idip-iec/53-entre-o-simbolico-e-o-disfuncional/>. Acesso em 13. set. 2025.
[12] Cf., por exemplo: MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 151.
[13] Art. 497 do CPC/15: “Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo”.
[14] PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. T. 2. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, §164, p. 201.
[15] Na expressão de Judith Martins-Costa (MARTINS-COSTA, Judith. PL que reforma CC é obra de populismo jurídico. In: Migalhas, 24. mar. 2025. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/426950/judith-martins-costa-pl-que-reforma-cc-e-obra-de-populismo-juridico>. Acesso em: 13. set. 2025).
[16] É o que se extrai da interpretação conjunta dos arts. 186 e 927, caput, do atual Código Civil. Cf., ainda, sobre o tema, a análise de SILVA, João Calvão da. Responsabilidade Civil do Produtor. Coimbra: Almedina, 1999, p. 375-376.
[17] Empregam-se as seguintes expressões para referir-se ao risco: “atividade de risco especial” (art. 927), “situação de risco” (art. 927-A), “risco especial e diferenciado” (art. 927-B), “situação de perigo” (art. 929).
[18] LALOU, Henri. La responsabilité civile: principes élémentaires et applications pratiques. Paris: Dalloz, 1928, n. 49, p. 39.
[19] MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 145.
[20] MARTINS-COSTA, Judith. Mercado e solidariedade social entre cosmos e taxis: a boa-fé nas relações de consumo. In: MARTINS-COSTA, Judith (org.). A reconstrução do direito privado: reflexos dos princípios, diretrizes e direitos fundamentais constitucionais no direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 611-661, p. 622.
[21] BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei nº 04, de 2025. Brasília, DF, 2025. Justificação, p. 251-252. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/>. Acesso em: 13. set. 2025.