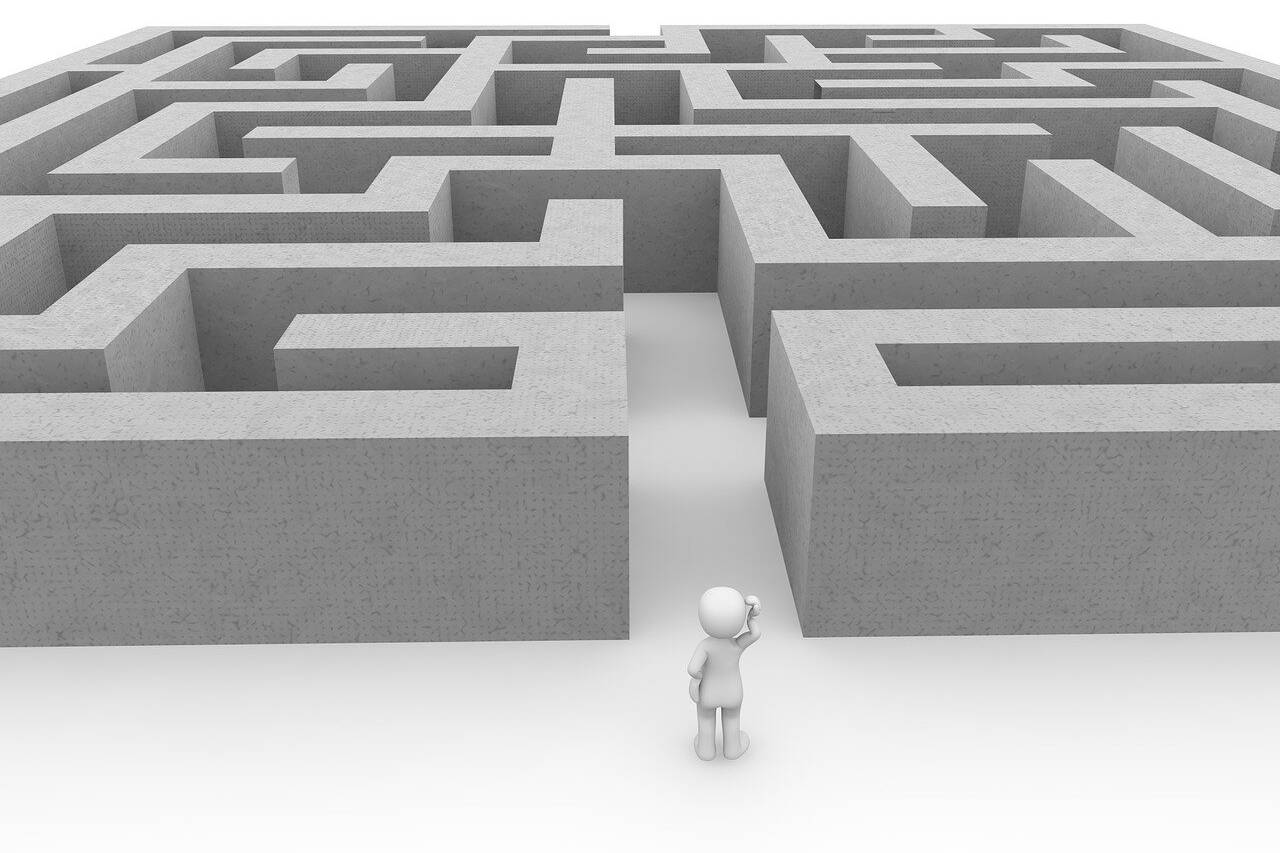Gabriel Magadan**
O projeto de reforma do Código Civil tem causado apreensão na comunidade jurídica, que vem apontando erronias e atecnias. A crítica se volta, sobretudo, à pressa na formulação das propostas e à ausência de um amplo e profundo debate. A pergunta que não cala é: a que propósito exatamente se está a fazer tamanha alteração, que deve resultar em um novo Código, substituindo o diploma vigente há pouco mais de vinte anos?
Não se nega as eventuais necessidades de atualizações, mas que devem ser pontuais, e debatidas na medida das efetivas exigências e no tempo adequado. Muitas das propostas formuladas podem até mesmo se tornarem obsoletas no curso do debate em face da velocidade das transformações sociais – observe-se o caso do Livro VI que trata do “Direito Civil Digital” já atropelado pelo encerramento das atividades da plataforma Skype, nominalmente citada no texto da proposta normativa[1]. Esse fato evidencia o caráter transitório e efêmero que determinadas ansiedades por mudanças legislativas podem ocasionar.
Assim, no espírito de poder prestar contribuição ao debate, trago alguns apontamentos a respeito das inserções propostas ao artigo 944. Este prevê o princípio da reparação integral, segundo o qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”, e no que toca à “extensão das consequências indenizáveis do dano” (que está localizada no artigo 403, do CC), adiciona o 944-B, o qual acaba por estabelecer uma mudança estrutural e conceitual. Assim o faz ao criar uma série de novos elementos à ampla reparação, incluindo o alargamento de possibilidades, ao estabelecer: “a indenização será concedida, se os danos forem certos, sejam eles diretos, indiretos, atuais ou futuros”[2]. Além de exigir que os danos sejam “certos”, amplia de modo indeterminado a extensão da zona de reparação, inovando na inclusão dos danos “indiretos”, assim como aqueles “atuais” e “futuros” (isto é: imediatos e mediatos, quiçá os remotos).
A inserção altera a estrutura atual da apuração dos danos[3], que, no Código vigente, encontra seu critério de limitação no artigo 403, o qual prevê “as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”. O filtro representado pela locução “direto e imediato” na atual codificação remonta historicamente aos ensinamentos de Pothier, que no famoso caso do rebanho contaminado pela vaca pestilenta adquirida pelo proprietário, tem seus prejuízos restritos à cadeia de eventos causais que decorrem de maneira “direta e imediata”.[4] Em termos legislativos, a redação atual vem de um percurso histórico, que data do Landrecht prussiano de 1794[5]. E encontra no Código Napoleão[6] seu assento e elo com a nossa codificação, no Código de 1916, no artigo 1.060[7], e no atual artigo 403[8]. Na França, como no Brasil, assim como na Itália, que tem redação correspondente em seus Códigos de 1865[9] e de 1942[10][11], circunscrita à hipótese do inadimplemento de obrigação contratual, a jurisprudência deu interpretação extensiva admitindo que a limitação dos danos se aplicasse aos casos de responsabilidade extracontratual.
A propósito da implicação de se referir expressamente à possibilidade de ressarcimento dos danos “indiretos” e dos “futuros”, tratando-se de inovação legislativa, deve-se pensar nas questões práticas envolvidas. Essas remetem à discussão sobre o filtro da reparação insculpido no artigo 403, sobretudo no que diz respeito à interpretação dada pela jurisprudência. Deve-se dizer que nem sempre a locução “direto e imediato” é compreendida de forma literal: ao contrário, na tradição brasileira, assim como na estrangeira que lida com igual norma, o que se busca é uma chave de leitura, que oscila a partir das vertentes teóricas da causalidade. Ora vislumbrando-a sob a ótica da teoria da conditio sine qua non, ora sob a da causalidade adequada. E entre nós, a partir da doutrina de Agostinho Alvim, da chamada subteoria da necessariedade[12].
A interpretação foi dada originalmente em julgado paradigma de 1994, da relatoria de Moreira Alves, envolvendo o caso que tratou da responsabilidade do Estado pelos prejuízos causados por evadido do sistema prisional[13]. Na ocasião, a questão se voltou sobre a prova do nexo de causalidade, e o julgado recorreu justamente à posição de Agostinho Alvim, na obra “Da inexecução…”[14], ao discorrer sobre a vertente que entende que a locução “direto e imediato” não deveria ser compreendida somente na ótica temporal, mas sobretudo na perspectiva da não interrupção da relação causal que a sustenta. Ou seja: haveria que se demonstrar que entre a fuga do detento e os danos causados pelo assalto que veio a praticar não se teriam interposto outros eventos, e deveria haver um liame de necessariedade, de modo a não interromper a cadeia iniciada.
Em que pese o entendimento sobre o tema da causalidade, a jurisprudência continuou errática, trazendo referências aleatórias a uma ou outra das teorias causais. E na maioria dos casos sequer fazendo menção explícita a algumas das formulações teóricas conhecidas[15]. O fato é que o caso da “fuga de presídio” ganha nova luz em 2020, em repercussão geral, e, outra vez, em julgado da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes[16], conclui-se que a teoria adotada no Brasil é a da necessariedade. O resultado foi o Tema 362[17]. Para que haja a reparação de prejuízos decorrentes da ação do detento evadido, deve haver uma relação de causa e efeito contínua e não interrompida (desde a sua fuga), estabelecendo-se vínculo de necessariedade. O fundamento legal para esse entendimento se encontra no dispositivo do artigo 403, e na leitura da locução dos danos “diretos e imediatos”, a compreensão de que haja inevitavelmente uma relação necessária entre os eventos, sem a concorrência de eventos alheios que venham interromper a relação causal em curso.
A proposta de inserir na cadeia de eventos que compõem e compreendem os danos reparáveis os havidos de modo “indireto” e “futuro” (pode-se ler “mediatos”, ou “remotos”?) confronta a lógica estabelecida na tradição do direito legislado em nossos códigos e abre uma discussão ampla a respeito da interpretação a ser dada, desconsiderando, de certa forma, o construto da hermenêutica utilizado na aplicação das regras vigentes.
Não se nega que a jurisprudência tem alargado as hipóteses de ressarcimento de danos, e que esse é um tema sensível. Entretanto, não se pode perder de vista a necessidade de que haja uma construção teórica sistematizada, a atender ao princípio da reparação integral, mas sem olvidar os filtros necessários à limitação das consequências indenizáveis, sob pena de uma extensão desmedida e indeterminada no tempo e espaço.
Importante observar a solução dada ao problema da imputação das consequências dos danos no Código Civil argentino. O Código de Vélez Sarsfield, de 1869[18], ao tratar do “Fato Jurídico” (“hecho jurídico”), a partir do artigo 901, dispunha que as “consequências de um fato, que costumam ocorrer segundo o curso natural e ordinário, para o Código, seriam consideradas ‘consequências imediatas’, sendo as que as resultassem somente de uma conexão de um fato com um acontecimento distinto seriam denominadas ‘consequências mediatas’”[19]; e as “mediatas”, que não fossem previsíveis, seriam “consequências casuais”. O artigo 903 admitia que as “consequências imediatas” seriam imputáveis ao autor dos fatos[20]; o 904, que as “consequências mediatas” somente seriam imputáveis se previsíveis[21], ao passo que no artigo 905, as consequências puramente “casuais” não seriam imputáveis ao autor do fato, exceto quando resultassem das suas intenções ao praticar o ato. O artigo 906 afastava em definitivo a imputação das consequências ditas remotas que não tivessem com o fato ilícito nexo “adequado de causalidade”[22].
Alterado em 2015, o Código argentino, embora tenha deslocado o tema das consequências indenizáveis, previsto na parte referente ao “Fato Jurídico”[23] para a que trata da “Função Ressarcitória”[24], desestabilizando a estrutura sistemática do Código primevo, não destoou do seu conteúdo classificatório, mantendo a taxonomia das consequências e o regime das imputações para fins de reparação. Indenizam-se os danos diretos, e os indiretos desde que previsíveis, e excluem-se os remotos que não guardam relação causal adequada com o fato ao que se origina (artigos 1726, “Relación causal” [25], e 1727, “Tipos de Consecuencias”[26]). Interessante observar, ademais, a escolha explícita do legislador por uma determinada teoria causal, insculpida na nominada exigência de que são reparáveis as consequências danosas que tem “nexo adecuado de causalidade” com o fato produtor do dano (art. 1726) e que as consequências de um fato que “acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas” se chama “consequencias imediatas”. As referências remetem diretamente à chamada teoria da causalidade adequada, indicando uma adesão formal no corpo legislativo a uma das formulações mais estudadas e desenvolvidas sobre o tema da causalidade – ainda que sob a lente dessa teoria se possam observar variações discursivas e metodológicas de aplicação.
Em nossa codificação, em matéria de limitação de danos, não houve a adesão expressa a uma teoria causal, assim como na França e na Itália, que, como se disse, tem textos semelhantes. Ocuparam-se a doutrina e a jurisprudência historicamente a buscar as razões teóricas e as chaves de compreensão para a aplicação da norma. Na Itália, o citado artigo 1.223, correspondente textual ao 403 do nosso Código, é o local no qual a doutrina localiza o critério definidor da extensão do dano, indicado na acepção de una “causalidade jurídica”, que, na responsabilidade civil, exerce sua segunda função, pra fins de apurar e mensurar as consequências danosas a serem reparadas[27]. O PL 4/2025 não faz qualquer alteração no artigo 403, que poderia até mesmo ser objeto de reformulação para abarcar de modo explícito os casos de responsabilidade extracontratual, e nem sequer faz a opção por apresentar conceitos que pudessem determinar o entendimento sobre o que são os danos indiretos, atuais ou futuros, e se deles estariam excluídos os “remotos”, relegando novamente ao juiz o papel de encontrar as suas balizas normativas[28]. Passa-se assim uma borracha no que já foi discutido na jurisprudência dominante, e abre-se a porta para uma nova era em que os danos podem ser indeterminados e a reparação não encontrar filtros adequados.
Considerações Finais.
A questão fundamental que a reforma enseja é a necessidade de se refletir sobre os riscos de um estrondoso abalo na estrutura sistemática do Código, que, alterado, constituirá um novo estatuto jurídico; alterações, diga-se, que podem comprometer a coerência, o equilíbrio e a integridade do próprio conjunto codificado. Altera-se de um lado, mexe-se de outro, e perde-se, sobretudo, o fio condutor da História. Não se pode ignorar que um Código se insere em um contexto social dinâmico, e que, como diploma legislativo, nasce, desenvolve-se e amadurece em meio a um arranjo complexo e diversificado de relações. E é nesse aspecto que a doutrina exerce imprescindível papel crítico – de verdadeiro constrangimento epistemológico. Mudanças, por si só, exigem debate e reflexão. Ideias aparentemente inovadoras não devem ser incorporadas apenas por suas supostas soluções criativas, sem antes serem dissecadas e decantadas sob o crivo do método e da ciência[29], e sem que suas implicações práticas sejam devidamente avaliadas, e seus efeitos descortinados em suas múltiplas dimensões, sob pena de se fazer da sociedade laboratório de experimentações não validadas.
* Citar como: MAGADAN, Gabriel. O artigo 944-B e a reparação pelos danos “indiretos” e “futuros”: alteração na estrutura do regime de imputação de danos. In: MARTINS-COSTA, Judith; MARTINS, Fábio; CRAVEIRO, Mariana Conti; XAVIER, Rafael Branco (Orgs.) Boletim IDiP-IEC, vol. LXVI. Publicado em 06.08.2025.
** Doutor em Direito Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Mestre em Direito Romano e da Unificação pela Universidade de Roma ‘Tor Vergata’. Academic Visitor no Institute of European and Comparative Law (IECL), Faculty of Law, University of Oxford. Professor nos cursos de Pós-Graduação em Responsabilidade Civil na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e em Direito dos Negócios na UFRGS. Advogado, sócio da Magadan e Maltz Advogados.
[1] No artigo 2.027-CD do PL 4/2025.
[2] BRASIL. Projeto de Lei nº 4/2025. Altera o Código Civil para incluir o artigo 944-B.
[3] Tema que enfrentei em minha tese de doutorado, defendida na UFRGS em 2016, sob a orientação da Professora Dra. Vera Fradera, e posteriormente publicada em livro: MAGADAN, Gabriel de Freitas Melro. Responsabilidade civil extracontratual: a causalidade jurídica na seleção das consequências do dano. Rio de Janeiro: Editora dos Editores, 2016.
[4] Pothier. Traité des obligations, in Ouvres, I, Bruxelles, n. º 67, p. 45.
[5] Moreira Alves, a propósito, aponta que movimento de codificação, que é profundamente influenciado pela doutrina da Escola do Direito Natural, surge em meados do século XVIII com o Código da Prússia, que entra em vigor em 1794, marcando importante influência às codificações que se seguem, sobretudo ao Código Civil francês em 1804. MOREIRA ALVES, José Carlos. A responsabilidade extracontratual e seu fundamento. Roma e America. Diritto Romano Comune. Roma: Rivista di Diritto dell’Integrazione e Unificazione del Diritto in Europa e in America Latina, n. 10, p. 47-68, 2000, p. 52.
[6] Art. 1151 do Code Civil: “Dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.” O texto original do artigo 1151, que consagrava a limitação da indenização aos danos “imediatos e diretos”, foi revogado com a reforma do direito das obrigações, promovida pela Ordonnance n° 2016-131, de 10 de fevereiro de 2016, em vigor desde 1º de outubro de 2016. A matéria passou a ser regulada pelo artigo 1231-4, que adotou o critério da previsibilidade dos danos, com exceção para os casos de culpa grave ou dolo, nos quais a limitação não se aplica. Assim, a tradicional expressão “suite immédiate et directe” foi suprimida do texto legal. Contudo, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual, a matéria não foi objeto de alteração legislativa expressa, permanecendo a cargo da jurisprudência, que continua a desempenhar papel central na definição dos limites da reparação e na utilização de filtros como a adequação causal.
[7] CC, 1916: “Art. 1.060. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”. Clóvis Beviláqua, em comentário ao referido artigo, explica a intenção da norma de evitar o ressarcimento dos danos que se encontrem em relação remota ao fato causador dano. Assim, nas palavras do legislador: “Se a inexecução resulta do dolo do devedor, não se atende à regra da previsão feita ou meramente possível na data da obrigação (art.1059, parágrafo único), porque não era lícito prever. Nesse caso, as perdas e dano terão maior amplitude, a reparação deverá ser a mais completa que for possível. Mas o Código não quer que este preceito de equidade se transforme, pelo abuso, em exigência, que a equidade não possa aprovar. Fixa um termo à indenização, que não pode abranger senão as perdas efetivas e os lucros que, em conseqüência imediata e direta, da inexecução dolosa, o credor deixou de realizar. Afasta-se o chamado damnum remotum. O devedor, ainda que doloso, responde somente do seu dolo, o que é uma questão de fato a verificar”. BEVILÁQUA, Clóvis, Comentários ao Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: Rio, 1958.
[8] Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.
[9] Artigo 1.229: “Qualunque l’inadempimento dell’obbligazzione derivi da dolo del debitore, i danni relativi alla perdita sofferta dal creditore ed al guadagno di cui fu il medesimo privato, non debbono estendersi se non a ciò che è uma conseguenza immediata e diretta del’inadempimento dell’obbligazzione”.
[10] Artigo 1.223: “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il retardo deve comprendere così la perdita súbita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenze immediata e diretta”.
[11] Giovana Visintini, a propósito do dispositivo no ordenamento italiano, refere que a “finalidade perseguida” pelo legislador foi excluir o ressarcimento das consequências que se apresentassem como “anormais” em relação ao inadimplemento obrigacional, “e quindi espressione di un rischio, che non è necessariamente insito nella mancata esecuzione della prestazione”. VISINTINI, Giovana. Cos’è la responsabilità civile: fondamenti della disciplina dei fatti illeciti e dell’inadempimento contrattuale. Roma: Edizioni Scientifiche Italiane, 2. ed., 2014. p. 293. Ainda a respeito do dispositivo, De Cupis explica que: “in realtà, tale laconica espressione non va interpretata alla lettera: il legislatore, mediante essa, ha voluto significare che l’obbligo di risarcimento non deve essere illimitato; al contrario, deve sussistere un criterio di moderazione e, quindi, non vanno risarciti i danni più remoti, legati al fatto dell’uomo da un rapporto di causalità pressoché impercettibile: altrimenti, il responsabile sarebbe facilmente posto a rischio di perdere il proprio intero patrimonio”. DE CUPIS, Adriano. Il danno. Milano: Giuffre, 1946 p. 112.
[12] Para Agostinho Alvim: “A escola que melhor explica a teoria do dano direto é a que se reporta à necessariedade da causa (…) é ela que está mais de acordo com as fontes históricas da teoria do dano direto e imediato (…) nós aceitamos a teoria ou subteoria da necessariedade da causa (…) suposto certo dano, considera-se causa dele a que dele é próxima ou remota, mas, com relação a esta última, é mister que ela se ligue ao dano, diretamente. Ela é causa necessária desse dano, porque ele a ela se filia necessariamente; é causa única, porque opera por si, dispensadas outras causas. Assim, é indenizável todo o dano que se filia a uma causa, ainda que remota, desde que ela lhe seja causa necessária, por não existir outra que explique o mesmo dano”. ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. Rio de Janeiro: Jurídica e Universitária, 3. ed., 1965. p. 338-339.
[13] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 130.764-PR, Rel. Min. Moreira Alves, 1ª Turma, j. 12 maio 1992.
[14] ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. Rio de Janeiro: Jurídica e Universitária, 3. ed., 1965. p. 338-339.
[15] Na prática, o tema das teorias causais sofre com desacordos semânticos e conceituais, além da total incompreensão e confusão a respeito das diversas elaborações apresentadas pela doutrina e que muitas vezes levam os julgadores a recorrem à regra de “bom senso”; o julgador decide tendo como critério a “razoabilidade”, ou seu “senso de justiça”, apontando uma elaboração teórica apenas para satisfazer o juízo dado. Gustavo Tepedino observa que o nexo de causalidade, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, frequentemente é analisado sob o critério do “bom senso”, com a consequente deficiência técnica na fundamentação teórica. TEPEDINO, Gustavo. O nexo de causalidade na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. In: FRAZÃO, Ana; TEPEDINO, Gustavo (coord.). O Superior Tribunal de Justiça e a reconstrução do direito privado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 485. Gisela Sampaio da Cruz, ao analisar o nexo causal na jurisprudência, em obra de 2005, elenca julgados de diversos Tribunais de Justiça, concluindo que a teoria do dano direto e imediato prevalece. No entanto, concorda com Tepedino quanto à atecnia na aplicação teórica aos casos. CRUZ, Gisela Sampaio da. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 122 e seguintes. Sanseverino, a propósito da multiplicidade das teorias, defende a conjugação entre elas — equivalência das condições, causa adequada e causa necessária —, assinalando que podem ser utilizadas em diferentes fases da apuração do nexo causal, além de as duas últimas exercerem a função de correção dos efeitos indeterminados da primeira. SANSEVERINO, Paulo de Tarso. Princípio da reparação integral. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 163-164.
[16] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE n. 608.880/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 8 set. 2020, publicado em 1º out. 2020.
[17] Tema n.º 362: “Responsabilidade civil do Estado por ato praticado por preso foragido.” Tese: Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada.
[18] O sistema de atribuição das consequências danosas no Código de Vélez Sarsfield adota uma estrutura conceitual classificatória que integra os diferentes tipos de consequência, com base no Landrecht prussiano de 1794. ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del derecho de daños: reparación, prevención, minimización de costos sociales. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2009, p. 71.
ORGAZ, Alfredo. El daño resarcible: actos ilícitos. Buenos Aires: Depalma, 1967, p. 56.
[19] Art. 901.- Las consecuencias de un hecho que acostumbra suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este código “consecuencias inmediatas”. Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman “consecuencias mediatas“. Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman “consecuencias casuales”
[20] Art. 903. Las consecuencias inmediatas de los hechos libres, son imputables al autor de ellos.
[21] Art. 904. Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido preverlas.
[22] Art. 906. En ningún caso son imputables las consecuencias remotas, que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad.
[23] Libro II, Seccion II, “De los Hechos y Actos Juridicos que Producen la Adquision, Modificacion, Trasferencia o Extincion de los Derechos y Obligaciones”, Titulo I, “De los Hechos”.
[24] Libro III, “Derecho Personales”, Titulo IV, “Otras fuentes de las obligaciones”.
[25] Art. 1726. Relación causal. Son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles.
[26] 1727. Tipos de consecuencias. Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este Código “consecuencias inmediatas”. Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman “consecuencias mediatas”. Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman “consecuencias casuales”.
[27] Na doutrina Italiana, particularmente, GORLA, Gino. Sulla cosiddetta causalità giuridica: “fatto danoso e conseguenze”, in Riv. dir. comm., 1951, 409; 372; REALMONTE, Francesco, Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno. Milano: A. Giuffrè, 1967, p. 80 e 159; BUSNELLI, Francesco Donato. La lesione del credito da parte del terzo, Milano, 1964, 127; CARBONE, Vincenzo. Il fatto dannoso nella responsabilità civile, Napoli, 1969, 282; CARBONE, Vincenzo, Il rapporto di causalità, in ALPA, Guido, BESSONE, Mario.La responsabilità civile a cura, Utet, 1997, 51; ALPA, Guido. BESSONE, Mario, ZENOZENCOVICH, Vincenzo. I fatti illeciti, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1995, 63; ALPA, Guido. La Responsabilità, cit., 326; CAPECCHI, Marco. Il nesso di causalità, da elemento della fattispecie “fatto illecito” a criterio di limitazione del risarcimento del danno, II ed., Cedam, 2005, p. 19.
[28] Daí a importância da definição de conceitos, que permite a apreensão e o controle racional da própria linguagem utilizada em seu respectivo regime jurídico, conforme observa Judith Martins-Costa:
MARTINS-COSTA, Judith. A linguagem da responsabilidade civil. In: BIANCHI, José Flávio; MENDONÇA PINHEIRO, Rodrigo Gomes de; ARRUDA ALVIM, Teresa (coord.). Jurisdição e direito privado: estudos em homenagem aos 20 anos da Ministra Nancy Andrighi no STJ. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 389-418.
[29] Segundo Menezes Cordeiro, na introdução à edição portuguesa da obra de Canaris, Pensamento sistemático na ciência do direito: “as verdadeiras mudanças são lentas; a sua detecção depende de uma certa distanciação histórica”. CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático na ciência do direito. Introdução de Menezes Cordeiro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 3. ed., p. 9.