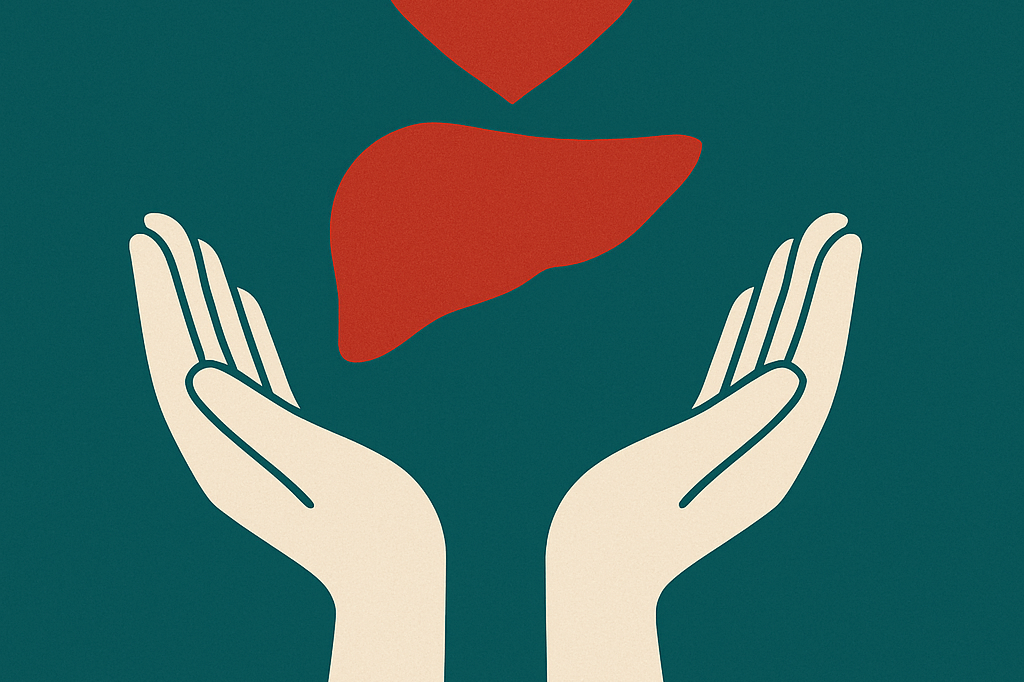Alfredo de Assis Gonçalves Neto**
Introdução
Ao receber a incumbência de elaborar um anteprojeto para substituir o Código Civil de 1916, MIGUEL REALE – um dos maiores, senão o maior pensador jurídico do seu tempo, que nos brindou com sua teoria tridimensional do direito –, escolheu a dedo os juristas que lhe pareceram mais adequados para, no ramo de suas respectivas especialidades, compor a comissão encarregada dessa hercúlea tarefa, “tendo todos em comum as mesmas ideias gerais sobre as diretrizes a serem seguidas.”[1]
Uma dessas diretrizes, que marcou a evolução do pensamento jurídico no texto que resultou no atual Código Civil, foi a coletivização de suas normas, isto é, o sopro de socialidade que elas receberam da referida comissão para afastar o caráter individualista que impregnava nossa legislação codificada.
Aliás, é do conhecimento geral que nossas leis, desde a independência, prestigiavam o individualismo jurídico, o qual só passou a ser questionado no último quartel do Século XIX, e combatido ao longo de todo o Século XX, notadamente por grandes jusfilósofos, como LARENZ, ENGISCH, BOBBIO e tantos outros, que defenderam, em linha convergente com a de REALE, a valoração do cenário efetivo que as normas jurídicas têm por função regular.
O regime jurídico anterior
O primado do individualismo jurídico fez escola por muitos anos e influenciou, decisivamente, a elaboração do Código Civil de 1916. Dele poderiam ser apontadas marcantes disposições individualistas, como o direito absoluto do proprietário em relação aos bens de sua propriedade, a rigidez do pacta sunt servanda, a previsão de a sociedade civil ser dissolvida por causas pessoais de seus sócios, etc.
Aliás, em relação essa última matéria, que será adiante enfocada, referida linha de pensamento já se tinha estabelecido no Código Comercial de 1850. Efetivamente, dispôs o legislador de então que a falência, a morte, a vontade unilateral, a inabilidade ou incapacidade, o abuso, a prevaricação, o descumprimento de obrigações e o sumiço (fuga) de qualquer dos sócios eram causas suficientes para pôr fim à sociedade – rectius, para dissolver a sociedade –, nada importando quantos fossem seus sócios (art. 335, ns. 2, 4 e 5; art. 336, ns. 2 e 3).
A doutrina pátria, impulsionada pelo dinamismo evolutivo da atividade econômica, aos poucos foi repensando essas situações e, inspirada em novos conceitos, procurou amoldá-las às emergentes exigências da vida. Assim, consolidou-se a ideia de a sociedade ser um ente diverso das pessoas de seus sócios, com vontade e patrimônio próprios, resultando daí a contemplação legislativa de sua personalidade jurídica, conquanto de modo um tanto acanhado e confuso, no Código Civil de 1916.
Também os contratos alargaram seus horizontes com o reconhecimento da existência de negócios jurídicos complexos, unilaterais, coletivos, plurilaterais e assim por diante.
Em estágio posterior, proveio a preocupação com a preservação da empresa, que hoje se erige em princípio constitucional implícito de nossa Carta Constitucional de 1988, visto derivar de outros nela contidos, notadamente o da busca do pleno emprego (art. 170, inc. VIII)[2] e o da proteção da empresa nacional (art. 171, § 1º).2
Com a consagração do contrato plurilateral e, também, do tratamento da sociedade como pessoa distinta da de seus componentes, e do desenvolvimento da teoria da preservação da empresa exercida por meio dela, foi sendo construída, aos poucos, a ideia de sua dissolução parcial.
De fato, a doutrina nacional, na esteira de algumas estrangeiras também marcadas pelo individualismo irradiado pelo Código Napoleônico, percebeu, sob o impacto da Revolução Industrial, que as disposições legais determinantes do fim da sociedade, em razão do rompimento do vínculo societário em relação a um sócio, não mais se prestavam para ser aplicadas às sociedades com mais de dois sócios, eis que, afora os reflexos econômicos, as relações jurídicas que uniam os demais sócios entre si e perante a sociedade não deviam ser afetadas por fato atribuível a um outro sócio, totalmente alheio a essas relações.
Um dos primeiros trabalhos a respeito desse tema em nosso País foi o de RUBENS REQUIÃO, quando defendeu em 1959, no seu concurso para a cátedra de direito comercial da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, a tese denominada “A preservação da sociedade comercial pela exclusão de sócio.” Em suma, sustentara o saudoso mestre que o que a lei previa como causa de dissolução (conduta incompatível com a qualidade de sócio) devia ser resolvido por meio da separação do sócio, evitando-se, assim, a extinção da atividade empresária exercida pela sociedade e suas relações com os sócios remanescentes.
E assim se sucederam outras manifestações relativas às causas de dissolução provocadas pelo desfazimento de vínculos societários parciais. Diante da norma que impunha a dissolução da sociedade com fundamento em fatos atribuíveis a um sócio, era preciso aplicá-la, pois a esse tempo tinha-se por certo que doutrina e jurisprudência não revogavam nossas leis. Tal aplicação, porém, devia ser feita de maneira a não atingir os direitos de terceiros (dos demais sócios e da sociedade em prosseguir com o empreendimento ajustado).
Desse modo, mediante uma elogiável interpretação construtiva, iniciada por notáveis comercialistas e logo endossada por nossos tribunais, passou-se a considerar que, ocorrendo qualquer das causas marcadamente individualistas acima mencionadas, dava-se a dissolução; essa dissolução, no entanto, operava-se exclusivamente perante o sócio que da sociedade se apartava, sem afetar os vínculos existentes entre os demais sócios e destes com a sociedade.
Com esse entendimento, não deixou de ser aplicado o dispositivo legal incidente no caso. Assim, sob o prisma do sócio retirante, excluendo, falecido ou incapaz tudo se passava como se dissolução tivesse ocorrido; já em relação à sociedade e a seus demais sócios (i) liquidavam-se as quotas de participação do ex-sócio, (ii) permaneciam intocados os vínculos que os uniam e (iii) ficava preservada a atividade econômica (a empresa) por ela exercida.
Como observei em outro de meus estudos, “a interpretação das disposições dos arts. 335 e 336 de nosso Código oitocentista evoluiu construtivamente para distinguir o interesse individual de cada qual dos sócios do interesse da sociedade (e – por que não? – da coletividade), de modo que, com o incentivo da doutrina e da jurisprudência de nossos tribunais, mitigou as causas de dissolução calcadas na pessoa do sócio (morte, inabilidade, atuação nefasta ou vontade unilateral) para – já com a visão do contrato plurilateral e do princípio da preservação da empresa – permitir que se operasse a dissolução apenas em relação a ele, sócio incapaz, falecido, praticante de atos contrários aos interesses sociais ou pretendente à dissolução pelo querer pessoal, permanecendo a sociedade entre os demais.”[3]
O regime jurídico instaurado com o Código Civil de 2002
Pois bem. O Código Civil vigente, graças ao anteprojeto que o edificou, eliminou as causas individualistas de dissolução societária aqui mencionadas para prestigiar, nessa parte, o coletivismo jurídico[4] – ou, nas palavras de REALE –, para dar ao conjunto de suas disposições as cores da “socialidade” e assim “superar o manifesto caráter individualista da Lei vigente”.[5]
Realmente, os arts. 1.033 e 1.034 do mencionado Código, inseridos na Seção VI (do Capítulo II, Título II do Livro II), que trata da “Dissolução” das sociedades, arrolam todas as causas extrajudiciais e judiciais que a determinam. Nesses preceitos encontram-se, apenas: o vencimento do prazo de duração, o consentimento unânime dos sócios ou sua deliberação por maioria absoluta, a extinção da autorização para funcionar, a anulação de sua constituição e o exaurimento do fim social ou sua inexequibilidade.[6] Nenhuma outra norma contempla a possibilidade de ser dissolvida a sociedade por vontade exclusiva ou por fato que diga respeito à pessoa de um sócio ou de sócios em minoria.[7]
Nessa diretriz, o mesmo Código separou as já apontadas causas individualistas de dissolução societária, que se continham na legislação revogada, para, expurgando algumas, reuni-las nos arts. 1.028 (falecimento), 1.029 (retirada) e 1.030 (exclusão), sob o título “Resolução da sociedade em relação a um sócio”, inserido na Seção V, que antecede a mencionada no parágrafo anterior, referente à dissolução. Ou seja, essas, que, no regime anterior, eram causas de dissolução do ente jurídico “sociedade”, foram convertidas em causas de desligamento de sócio ou de rompimento do vínculo da sociedade em relação a um ou mais de seus sócios.
O que está a ocorrer
Essa radical mudança, no entanto, não foi recepcionada nos trabalhos de muitos tratadistas, que, nesse ponto, apoiados ou secundados pela orientação quase unânime de nossos tribunais, continuaram a cuidar do desligamento de sócios como causas de dissolução parcial da sociedade.
Arrimado nessa orientação, o Código de Processo Civil de 2015, nos seus arts. 599 a 609, consagrou a expressão “dissolução parcial” para regular as ações judiciais fundadas precisamente em tais situações, causando com isso algumas perplexidades.
Devo dizer, de plano e com todas as vênias, que não me parece correto qualificar as causas de rompimento dos laços societários que vinculam a sociedade a cada qual de seus sócios como causas de dissolução parcial dela, uma vez que, diferentemente do que era estatuído no regime jurídico anterior, elas não mais decorrem, como antes acontecia, de qualquer previsão legal condizente com o fenômeno da dissolução. Aliás, é de evidência palmar que o objeto e as funções de uma e de outra são totalmente distintos, como distintos são os meios para atingi-los.
Para ser breve, faço apenas três ponderações que confirmam a barafunda criada com esses desajustes.
A questão da preservação da empresa
De partida observo que a preservação da empresa era e deve continuar sendo o principal fundamento para justificar a dissolução parcial como modo de evitar a dissolução (total) da sociedade e, portanto, a paralisação das atividades sociais, a perda de empregos e os reflexos que seu desaparecimento pode trazer para a comunidade onde atua.
Com os olhos voltados para a realidade, tem-se de reconhecer, sem dúvida, que, apesar da mudança havida nas causas dissolutórias, é plenamente possível concluir que as disposições atuais sobre a matéria não repelem a dissolução parcial; ela sobrevive com a mesmíssima finalidade. Realmente, basta supor a capitulação de uma das causas dissolutórias previstas, por exemplo, no art. 1.033, incs. I e III do Código Civil (por vencimento do prazo de duração ou por assim decidir a maioria dos sócios), ou no art. 1.034, inc. II (por inexequibilidade do fim social). Diante de qualquer dessas causas não haverá impedimento para uma parte dos sócios prosseguir com o empreendimento entre si, tudo se passando em relação aos outros como se dissolução houvesse.
Quero com isso dizer que, verificando-se uma causa atual de dissolução da sociedade, que não seja de ordem pública, faz todo sentido, a depender do caso concreto, sustentar que continua plena a possibilidade de a dissolução operar-se parcialmente, em defesa da manutenção da sociedade entre os sócios que o desejarem, como forma de preservar a empresa que vinha sendo exercida. Afinal, tal como antes, o rompimento dos vínculos societários em relação a alguns não rompe necessariamente os daqueles que desejam manter os seus. Aliás, mesmo já estando em curso a liquidação da sociedade, é permitido aos sócios, que não concordarem com o fim do empreendimento, deliberar a cessação do estado de liquidação e restaurar ou manter seus vínculos, até porque, ao menos em relação à sociedade limitada e à sociedade anônima, há previsão expressa nesse sentido (CC, art. 1.071, inc. VI, última parte; Lei das S. A., art. 136, inc. IV).
O mesmo propósito, contudo, não é factível quando advém uma das causas de desligamento de sócio, de que atualmente tratam os arts. 1.029 a 1.030 do Código Civil, porquanto elas em hipótese alguma preservam a empresa e, por consequência, não servem de fundamento para sua manutenção. Pelo contrário, referidas causas têm por fim retirar do patrimônio social a parcela que toca ao sócio que se aparta da sociedade – o que (salvo se tal patrimônio não for positivo) implica desembolso inesperado e geralmente significativo de recursos com os quais a sociedade conta para o desenvolvimento do seu negócio. Essas causas trazem, então, o risco de arruinar a sociedade ou levá-la a perder sua competividade no mercado. Por amor à racionalidade, não há como dizer que se preserva a empresa se, ao apurar os haveres de sócio que da sociedade por qualquer modo se desliga, nasce para ela a obrigação de originar e desembolsar os recursos necessários para pagar ao referido sócio, em dinheiro de contado, a fatia do patrimônio correspondente à participação que nela ele possuía; e, se, da apuração nenhum valor resultar, a sociedade em nada é afetada.
Mesmo diante dessas obviedades, o fato é que ainda há alguns textos de doutrina e decisões do Poder Judiciário acolhendo essa falsa dissolução parcial sob a bandeira da preservação da empresa.
O necessário tratamento diferenciado
Por outro lado, na dissolução da sociedade é nomeado um liquidante para agir como um verdadeiro administrador, com a finalidade de ultimar os negócios sociais, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios (CC, art. 1.103, inc. IV). Tudo isso é feito sem qualquer avaliação, salvo se, excepcionalmente, exigirem-na os sócios.
Na indevidamente chamada de dissolução parcial não há nomeação de liquidante, mas um procedimento de verificação do valor do patrimônio líquido, mediante a atuação de um ou mais avaliadores, segundo os critérios estabelecidos no contrato social ou na lei.
Apesar disso, são encontradiças passagens na doutrina e na jurisprudência de nossos tribunais sustentando que a apuração de haveres de sócio deve ser realizada como se de dissolução total se tratasse. Afora o fato de as funções de liquidante e avaliador serem totalmente distintas, dá-se que, na apuração de haveres, podem entrar valores que na dissolução total não são computáveis, ou não se realizam, como os relativos a muitos intangíveis, eventualmente as perspectivas de rentabilidade futura, etc.
A diversidade de interesses
Indo além, na dissolução da sociedade todos os sócios têm interesse direto, ao passo que no desligamento de sócio o interesse direto é da sociedade e não dos sócios individualmente considerados, porque só reflexamente atingidos. O Código de Processo Civil, ao regular a ação de dissolução parcial, à luz da ideia de tratamento igualitário, seguiu orientação assentada pelo Superior Tribunal de Justiça e determinou a citação de todos os sócios, quando bastava para essa demanda a citação da sociedade e a notícia da existência da ação aos demais sócios como terceiros interessados, porque não diretamente envolvidos, assim como era no regime anterior.[8] Afinal, a sociedade é uma criação legal, que enfeixa os interesses do conjunto de seus sócios.
Desconsiderando a dificuldade de citação de todos os sócios de sociedade que é formada por muitos, são encontradiças decisões que, porque citados, os sócios devem responder pelo pagamento dos haveres, ainda que o tipo societário se apresente com limitação de suas responsabilidades e, portanto, não o permita.
Conclusão
A inobservância de diretrizes básicas, que merecem ser atendidas na elaboração das leis pelo Congresso Nacional para uma boa harmonia legislativa, tem dado margem a desencontros e, muitas vezes – o que é mais grave e preocupante –, a distorções oportunistas, ou ocasionais, destoantes da realidade que devem regular.
A esperança de um eixo de arrumação parece estar ficando cada dia mais distante, como atesta, entre tantos outros exemplos recentes, o PLS 4/2025, de reforma do Código Civil, apresentado ao Senado Federal. Tomando-o aqui de propósito, vê-se que nele há uma babel de propostas desencontradas, que prejudicam a sistematização, tão ciosamente observada pelo legislador de 2002.
Por essa razão, adotei esse tema para exemplificar o quanto se contém nesta rápida mensagem que se destina a enfatizar a premente necessidade de revitalizar e valorizar as bases que escoram nossa cultura jurídica.
* Citar como: GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Do Individualismo ao Coletivismo em Matéria Societária. In: MARTINS-COSTA, Judith; MARTINS, Fábio; CRAVEIRO, Mariana Conti; XAVIER, Rafael Branco (Orgs.) Boletim IDiP-IEC, vol. 72. Publicado em 1º/10/2025.
** Professor Titular da Faculdade de Direito da UFPR. Advogado.
[1] O texto em destaque está no prefácio de REALE à obra Novo Código Civil Brasileiro – Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Estudo comparativo com o Código Civil de 1916, Constituição Federal, Legislação Codificada e Extravagante. 2ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. IX.
[2] “Nossa Lei Fundamental destaca, dentre os fundamentos do Estado Democrático de Direito que adotou, a livre iniciativa (art. 1º, IV), a construção de uma sociedade mais justa (art. 3º. I), a liberdade de trabalho, ofício e profissão (art. 5º, XIII) e a defesa dos direitos do consumidor (art. 5º, XXXII). Mais adiante, ao regular a atividade econômica, garante a propriedade privada dos meios de produção, a concorrência, a defesa do meio ambiente e a busca do pleno emprego (art. 170 e incisos). Do conjunto dessas disposições extrai-se o princípio constitucional implícito da preservação da empresa, como forma de assegurar seu cumprimento.” (GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de empresa – comentários aos arts. 966 a 1.195 do Código Civil. 11ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023, p. 73.)
[3] GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito comercial – pareceres. São Paulo: Lex, 2019, p. 220.
[4] É importante observar que individualismo e coletivismo (universalismo) jurídicos não se excluem, pois convivem ou devem conviver harmonicamente em nosso ordenamento, como sustenta FRANCISCO AMARAL em artigo a respeito. (Individualismo e universalismo no direito civil brasileiro. Permanência ou superação de paradigmas romanos? In: Revista brasileira de direito comparado luso-brasileiro. v. 7. Rio de Janeiro: Instituto de Direito Comparado Luso-Brasileiro, 1990, n. 13, p. 64-95.)
[5] REALE, Miguel. Novo Código Civil Brasileiro – Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Estudo comparativo com o Código Civil de 1916, Constituição Federal, Legislação Codificada e Extravagante”. 2ª. ed. cit., (Prefácio), p. XIV.
[6] Por um cochilo do legislador (certamente em razão da inserção da sociedade limitada unipessoal em nosso ordenamento, porém esquecido de que outras há), a falta de pluralidade de sócios, que estava prevista no art. 1.033, inc. IV, do Código Civil, deixou de figurar entre as causas de dissolução (Lei 14.195, art. 57, inc. XXIX, letra “d”). Contudo tal causa decorre do conceito de sociedade previsto no art. 981 e a ressalva legal dele só exclui um único tipo societário.
[7] Só será possível uma tal causa dissolutória se avençada pelos sócios no contrato social (CC, art. 1.035).
[8] O CPC de 1939, cujas disposições, nessa parte, haviam sido mantidas pelo CPC de 1973, não determinava a citação dos sócios, mas sua oitiva, no prazo de 48 horas (em se tratando de dissolução de pleno direito) ou de 5 dias (caso fosse contenciosa). Interessante é notar que o CPC de 2015, diferentemente da hipótese aqui versada, prevê, para o caso de penhora de quotas de sócio, a obrigação de a sociedade noticiá-la aos demais sócios para dela tomarem conhecimento e exercerem seu direito de preferência na aquisição (art. 861, inc. II) – providência salutar que bem poderia ter sido estendida para o desligamento de sócio.